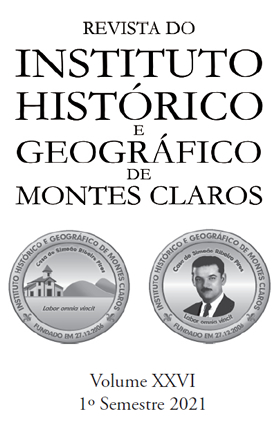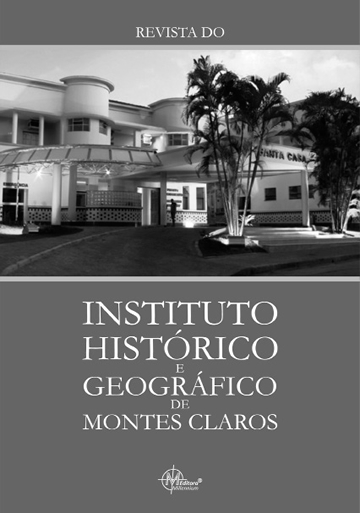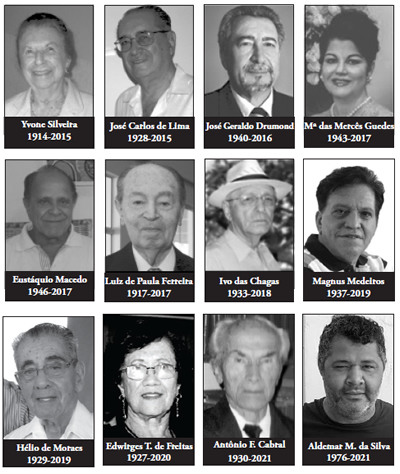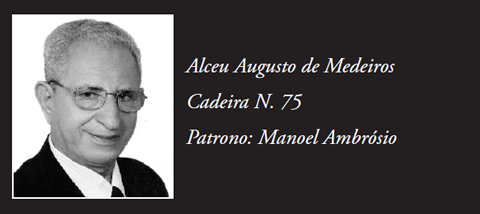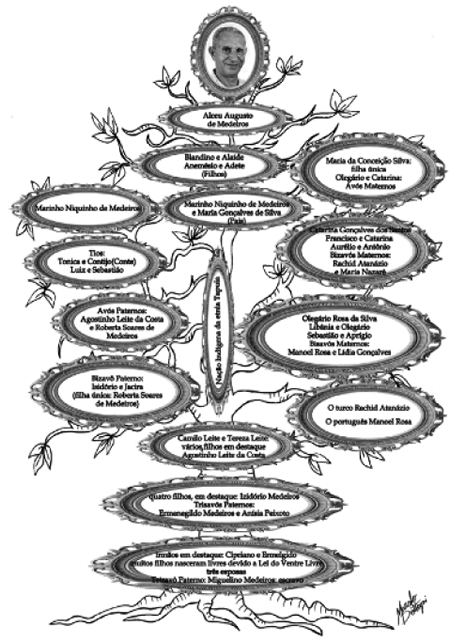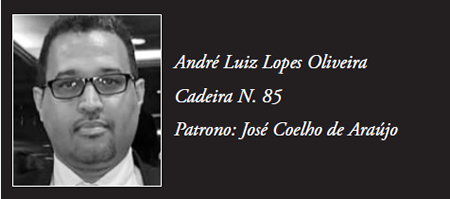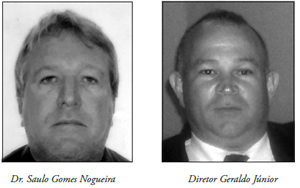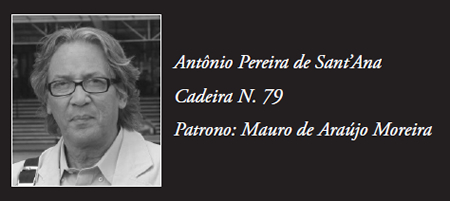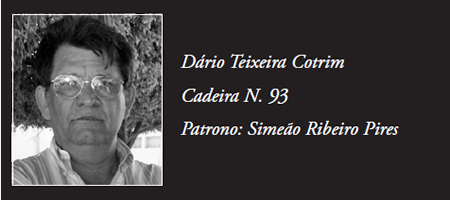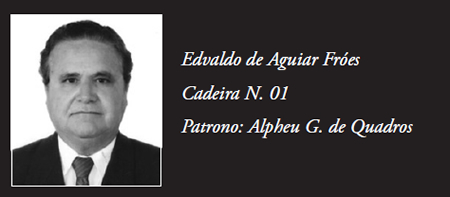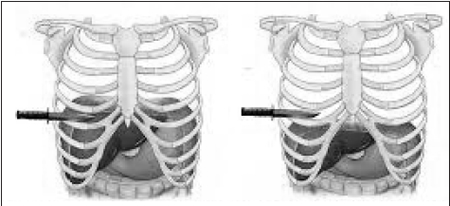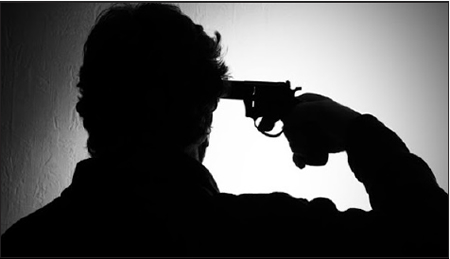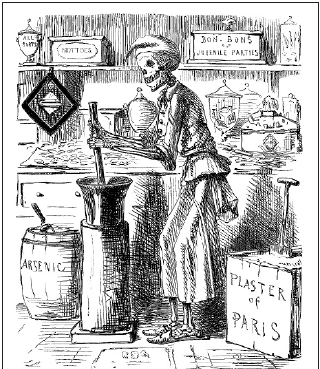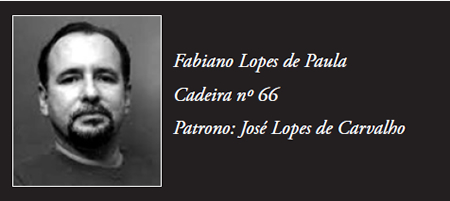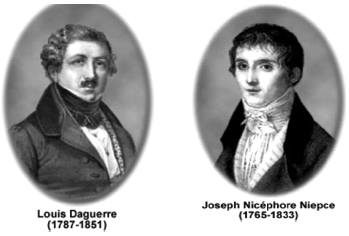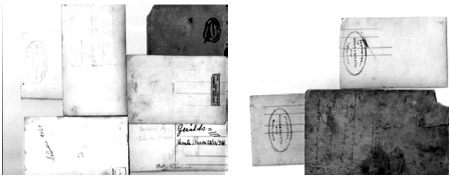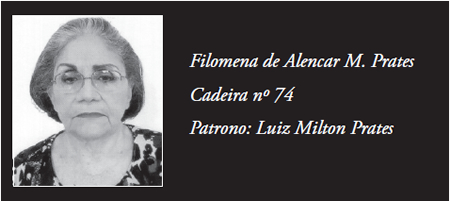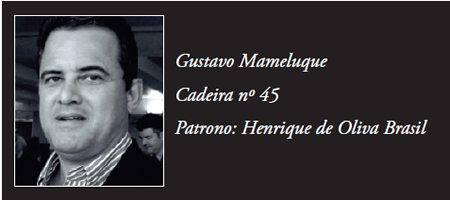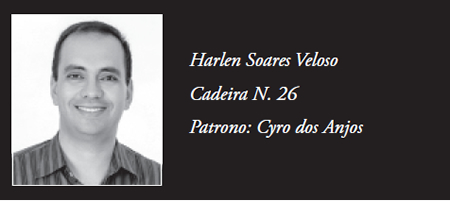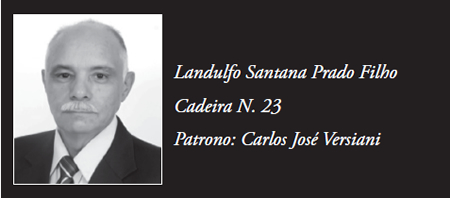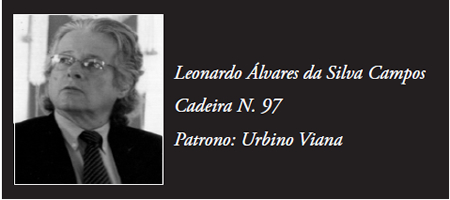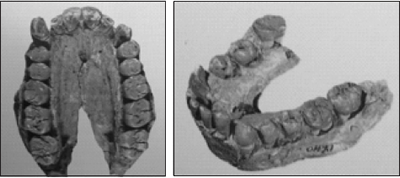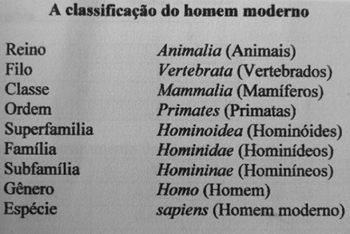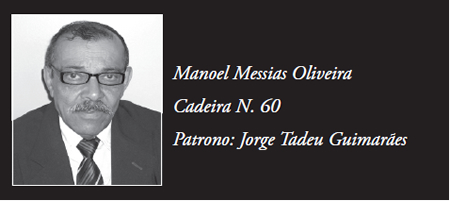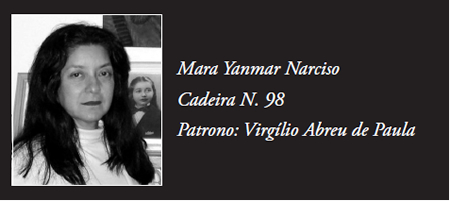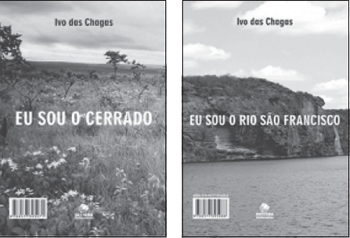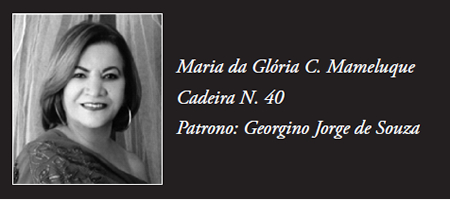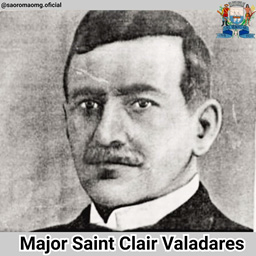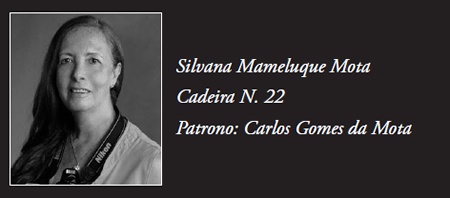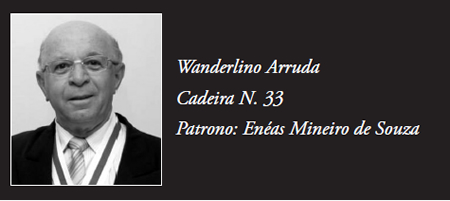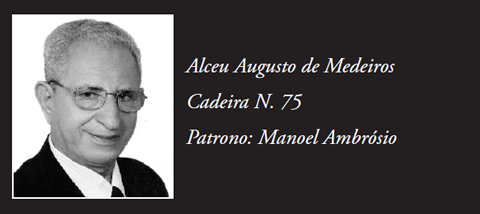
ÁRVORE
GENEALÓGICA DE ALCEU
Eu
tinha dez anos de idade quando concluir o curso primário,
na cidade de Coração de jesus. Naquela época,
nas cidades pequena do interior a escolaridade chegava somente
até o quarto ano primário. Voltei a morar na
fazenda de meus avós que me criavam, porque eu era
órfão de pai e mãe. Meu tio Caetano,
o mais velho, decidiu não trabalhar mais na fazenda
e foi para um garimpo de diamante, em um lugar de nome Buriti
Grande, situado no pé da Serra do Cabral perto do povoado
do Barreiro, hoje a cidade de Francisco Dumont. Ele casou
por lá mesmo, e vinha em casa de vez em quando somente
a passeio. Em um destas visitas, pediu aos meus avós,
pra me levar com ele, para fazer companhia para sua esposa,
porque quando ele saia para trabalhar no garimpo, ela ficava
muito sozinha. É que ele saia pela manhã e só
voltava ao anoitecer. Meus avós autorizou e eu fui
com meu tio para o garimpo de Buriti Grande. A viagem era
longa, mas eu aguentei montado no lombo do cavalo. Lá
eu conheci muita gente, inclusive o Sr. José Borem
que era dono de todas
aquelas terras, inclusive as terras do garimpo. Conheci também
os outros pequenos fazendeiros que fornecia mantimentos, carnes,
leite, queijo, verduras e legumes para os garimpeiros. Entre
eles, eu destaco o Sr. José Fernandes que era um dos
pequenos fazendeiros. Ele era um senhor de idade bastante
avançada, notava isto pela sua cabeleira e barba completamente
branca, e um rosto bastante enrugado. Mas era muito simpático,
e estava sempre alegre, gostava de contar causos, e sabia
de muitos causos, e eu gostava de ouvi-los. Era da casa dele
que toda manhã eu buscava o leite para o consumo em
casa. Todos me conhecia pelo o apelido de Seu Zinho. Um certo
dia, ele me perguntou! Como é seu nome todo meu rapaz!
Eu disse! Meu nome é: Alceu Augusto de Medeiros. Onde
você nasceu! Eu nasci no Pitinha, hoje o povoado de
São João da Lagoa. Ele perguntou! Como chama
seus pais! Eu disse: Meu pai, Marinho Niquinho de Medeiros
e minha mãe, Maria da Conceição Silva.
Perguntou! Como chama sua avó mãe de seu pai!
Minha avó mãe de meu pai é Roberta Soares
de Medeiros. Ele ficou me olhando de maneira enigmática
e me perguntou! Você quer ouvir um causo que começou
há muitos anos atrás e terminou na sua avó
Roberta! Sim eu quero ouvir! Mas o senhor conhece a minha
avó Roberta! Eu não conheço! Quem conheceu
foi o meu pai. Ele era tropeiro e viajava por aquelas banda,
e pousava lá no Rancho da Pêia, o Pitinha de
hoje, é lá que ela mora não é!
É Sim sinhô. Venha aqui a tarde eu vou fazer
um chá de canela pra nós tomar com queijo fresquinho,
depois eu vou conta um causo pra você. Você vem?
Venho Sim Sinhô. A tarde quando cheguei, o senhor José
Fernandes já estava me esperando sentado em um grande
champrão de madeira sob a sombra de uma frondosa mangueira,
ao lado sobre o banco havia um bule com chá, duas xícara
e um prato com queijo já cortado em pedaços.
Quando me aproximei, o senhor José Fernandes com um
largo sorriso no rosto disse! Você é bom no trato
menino, senta ai vamos comer! Acabamos de tomar o chá
acompanhado com queijo, ele limpou a boca com as costa da
mão e com começou a contar
o causo. No começo do século dezoito, ou seja
entre l820 e l825, chegou no povoado do Senhor do Bom Fim,
hoje a cidade de Bocaiuva, uma lava de escravo homens e mulheres,
comprados por fazendeiros daquela região. Depois de
alguns anos, já havia aumentado muito as famílias
dos escravos, e uma delas era liderada por um dos integrantes
de nome Miguelino Medeiros. Diziam que ele tinha três
mulheres e uma delas era branca. Vamos falar somente dele,
porque foi dele que surgiu muitas famílias de escravos
e não escravos no norte de Minas Gerais. Miguelino
Medeiros foi pai de muitos filhos que pela lei do ventre livre,
nasceram libertos e esparramou por várias região
do sertão do norte de Minas, e outras regiões.
Eles eram muito trabalhadores, adquiriram famílias
e diziam que alguns casaram com moça branca e tiveram
muitos filhos e filhas, e muitos deles chegaram aprender a
ler e escrever, como foi o caso de Cipriano de Medeiros, que
não saiu da região onde seu pai morava e ainda
escravo. Ele ficou muito rico, comprou a alforria do pai e
foi dono de muitas fazendas na região. Três deles
foi! Um para a região onde é hoje o povoado
de Claros dos Poções. Outro lá para os
lados de Pirapora. Mas vamos falar daquele que foi para a
região do arraial do Santíssimo Coração
de Jesus. Dos filhos de Miguelino Medeiros que foram para
outras regiões, adquiriram famílias e tiveram
muitos filhos e netos. Vou destacar entre eles, o que foi
para a região do Santíssimo Coração
de Jesus, depois Vila Inconfidência, hoje a cidade de
Coração de Jesus. Ele chamava Hermenegildo Soares
de Medeiros, o nome era difícil de pronunciar, então
ficou conhecido como Miligido. Miligido casou com uma moça
branca de nome Anísia Peixoto e tiveram quatro filhos.
Não vou falar dos outros três filhos de Miligido.
Vou falar somente do filho mais novo de nome Isidoro Medeiros
que casou com uma Índia da etnia Tapuia, de nome Jacira
e tiveram apenas uma filha que recebeu o nome de Roberta Soares
de Medeiros. Isidoro havia adquirido uma fazenda na margem
do córrego denominado Barro. A fazenda tinha uma boa
gleba de terra, e ficava perto de uma pousada de
tropeiros, conhecida como: Rancho da Pêia, depois o
povoado do Pitinha, hoje São João da Lagoa.
Na fazenda do Barro, trabalhava na labuta, vários negros
libertos, filhos e netos libertos, entre eles, o capataz Agostinho
Leite da Costa, filho de Camilo Leite da Costa, escravo liberto
pela a lei Áurea. Era casado com Tereza Leite e tinham
quatro filhos incluindo Agostinho. Camilo era sapateiro e
tinha uma oficina de concerto de sapatos no Arraia do Santíssimo
Coração de Jesus. Jacira a esposa de Isidoro
morreu quando Roberta era uma menina com doze anos de idade.
Não havia escolas naquela redondeza, por isto Roberta
era analfabeta, mas sabia tudo de fazenda. Daqui para a frente
o senhor José Fernandes parou de fazer a narração
porque não sabia mais o que aconteceu. Mas eu sabia,
e continuei a contar. Quatro anos após o falecimento
de Jacira, Isidoro também morreu, ficando a filha Roberta
órfã de pai e mãe aos dezesseis anos
de idade. Roberta já namorava com Agostinho escondido
do pai, agora finado Isidoro. A pedido de Roberta, Agostinho
passou a ser o administrador da fazenda. Eles não podia
se casar, porque Roberta era menor de dezoito anos, e o padre
não celebrava o casamento porque ela era menor de idade.
Quando Roberta completou dezoito anos de idade, eles se casaram
e tiveram cinco filhos. Pela ordem de idade: Luiz –
Sebastião – Tonica, única filha mulher
– Marinho Niquinho de Medeiros – e Contijo (Conte).
Destaco aqui: Marinho Niquinho de Medeiros, porque daqui para
a frente ele tem tudo a ver com minha história. Esta
foi a parte da origem de meu pai.
Agora conto a parte da origem de minha mãe. No final
do século dezoito ou seja: entre l890 e l895, no arraial
do Santíssimo Coração de Jesus, que devido
o aumento da população passou a chamar Vila
Inconfidência. Nesta época havia chegado no Rio
de Janeiro um português de nome Manoel Rosa da Silva,
que sonhava em ficar rico no garimpo de diamante, e foi para
a região de Diamantina garimpar. Não teve sorte.
Soube de um garimpo que estava produzindo muito diamante
na região de Grão Mogol. Foi para lá,
e conseguiu garimpar algumas pedrinhas de diamante que lhe
rendeu um bom dinheiro. E acreditando no ditado popular que
dizia! O garimpo dá, o garimpo toma! Resolveu não
trabalhar mais no garimpo. Com o dinheiro que ganhou no garimpo,
decidiu comprar uma fazendinha, e viver tranquilo. Comprou
um cavalo arriado e um burro cargueiro para levar a tralha
de cozinha e os mantimentos, e viajou para encontrar o lugar
que desejava. Partiu para o rumo de Montes Claros. Em Montes
Claros não encontrou o lugar que pretendia comprar.
Seguiu em frente até chegar em Vila Inconfidência.
Lá foi informado que havia umas terras a venda, perto
da cabeceira do córrego denominado Traçado.
Ele foi ver, e encontrou a terra que queria. Era realmente
uma terra boa, com bastante água para a lavoura e para
o gado. Ficava situada doze quilômetros ou seja duas
léguas de Vila Inconfidência, e limitava com
a fazenda Colodino de propriedade do turco Rachide Atanásio.
Comprou a terra e construiu uma boa casa com o material usado
na época, que era, adobo, barro e madeira. Conheceu
lá uma moça muito bonita, de nome Lídia
Gonçalves, filha de um pequeno fazendeiro cuja as terras
limitava com ele. Apaixonaram e namoraram por pouco tempo,
casaram e tiveram quatro filhos que eram: Sebastião,
Aprígio, libânia e Olegário. O português
Manoel Rosa, havia chegado depois do turco de nome Rachide
Atanásio. Rachide foi mascate ambulante e viajava por
toda aquela região vendendo suas mercadorias que eram:
cortes de tecidos para confecções de roupas,
aviamentos como: carreteis de linha, rendas, colchetes, agulhas,
alfinetes, botões, gravatas, suspensórios, meias,
curriões, chinelos, pomadas, pó de arroz, perfumes,
sabonetes, espelhos, pasta de dente e outros mais. Transportava
tudo em malas e sacolas de lona na garupa do cavalo. Depois
de passar vários anos viajando e mascateando, Rachide
Atanásio havia economizado dinheiro bastante para comprar
a fazendinha que tanto sonhava. Encontrou o lugar que queria
para formar sua fazendinha, distante duas léguas da
Vila Inconfidência. Era uma boa terra de cultura,
com bastante água corrente e perene. O lugar chamava
Colodino e limitava com o córrego de nome Traçado,
que era limite com as terras que mais tarde seria comprada
pelo português Manoel Rosa da Silva. Ele construiu a
casa, os currais e passou a criar gado bovino que produzia
leite para o consumo e também queijo e requeijão
e vendia na Vila. Além da produção de
cereais, legumes, verduras e frutas. O turco Rachide Atanásio
chegou no Brasil e embrenhou pelo sertão de Minas Gerais
alguns anos antes do português Manoel Rosa da Silva.
Gostou do lugar, e resolveu fincar o pé ali mesmo na
Vila Inconfidência, de onde saia para vender suas mercadorias
na redondeza. E também foi onde conheceu uma moça
de nome Maria Nazaré, mas conhecida por Nazinha. Ela
foi o seu grande amor, mas não podia casar ainda, devido
a sua condição de viajante, e também
não tinha uma casa pra morar, mas ficaram namorando!
Agora ele podia casar e a pediu em casamento, ela aceitou.
Casaram e tiveram três filhos homens e uma filha mulher.
Pela ordem: Aurélio, Antônio, Francisco e Catarina.
Os filhos do turco Rachide, e os filhos do português
Manoel Rosa, que eram vizinhos e foram sempre amigos fizeram
o curso primário juntos, cresceram juntos, e alguns
casaram com a irmã dos outros. Os filhos das duas famílias
adquiriram cada um, uma gleba de terra na região e
fizeram suas fazendas. A maior delas era a fazenda de Olegário
que ficava na parte baixa do córrego do Traçado
e tinha o nome de Fazenda do Traçado. Aurélio
casou-se com Libânia, Francisco casou-se com Tonica,
filha de Roberta Medeiros, Antôniocasou-se com Henriqueta
prima de Catarina, Sebastião casou-se com Rita também
prima de Catarina. Aprígio foi embora para São
Paulo e nunca mais apareceu. Olegário casou-se Catarina,
e tiveram apenas uma filha que pelo o batismo, recebeu o nome
de Maria da Conceição Silva. Três anos
depois do casamento, Olegário faleceu e Catarina ficou
viúva, com um filha de dois anos de idade. Mas vamos
falar de uma outra família, que há muito tempo
antes da chegada do turco Rachide Atanásio e do português
Manoel Rosa havia chegado naregião
do Santíssimo Coração de Jesus, vindo
do estado da Bahia, era a família dos Guedes. Composta
pelos irmãos: Tonico, Joana, e Felício. Tonico
casou-se com uma moça de nome Maria Elpídia
e tiveram seis filhos: Josefa (Zefinha), Julho, Cândido,
Nazinha, Faustino e Joaquina. Todos tinham o sobrenome Guedes.
Joana casou-se também com um rapaz da região
e tiveram sete filhos: Pedro, Cátia, Elói, Geraldo,
Maurício, Firmino e Juliana. Entre os irmãos
Tonico e Joana, Felício era o mais novo e já
era tio dos filhos deles. Anos mais tarde Felício Pereira
Guedes casou-se com a viúva Catarina e veio a ser o
pai adotivo da menina Maria da Conceição Silva.
Felício e Catarina tiveram mais cinco filhos: Caetano,
Arão, Aristóteles (Tote), Maria Alvina (Lia)
e Manoel Venâncio (Tave). Todos com o sobrenome Pereira
Guedes. Com o casamento, Catarina passou a ter o nome de Catarina
Gonçalves Guedes. A menina Maria da Conceição
Silva era carinhosamente aplicada por Negrinha, embora fosse
branquinha de cabelos pretos e lisos. Os filhos de Agostinho
Leite e Roberta Medeiros e os filhos de Tonico Guedes e dona
Maria Elpídia Guedes, eram mais ou menos da mesma idade,
como também os filhos de outras famílias que
naquela época chegaram na região. Todos eram
amigos na infância, e continuaram amigos depois de adultos.
A população Medeiros, Guedes, Rosa e Atanásio,
cresceu e foi misturando com outras que chegou na redondeza
e esparramou para outras região. Marinho Niquinho de
Medeiros filho de Agostinho Leite da Costa e Roberta Soares
de Medeiros, casou-se com Maria da Conceição
Silva, filha de Olegário Rosa da Silva e Catarina Gonçalves
dos Guedes (e também filha adotiva de Felício
Pereira Guedes, segundo esposo de Catarina). Tiveram cinco
filhos: Alceu Augusto de Medeiros, Anemésio Silva Medeiros,
Adete Silva Medeiros, Blandino Silva Medeiros e Alaíde
Gonçalves de Medeiros. Pesquisei e escrevi, o relato
da minha ÁRVORE GENEALÓGICA. Observação!
Pertênço a quatro etnia! O NEGRO, ÍNDIO,
TURCO E PORTUGUÊS. Meu nome? Alceu Augusto de Medeiros.
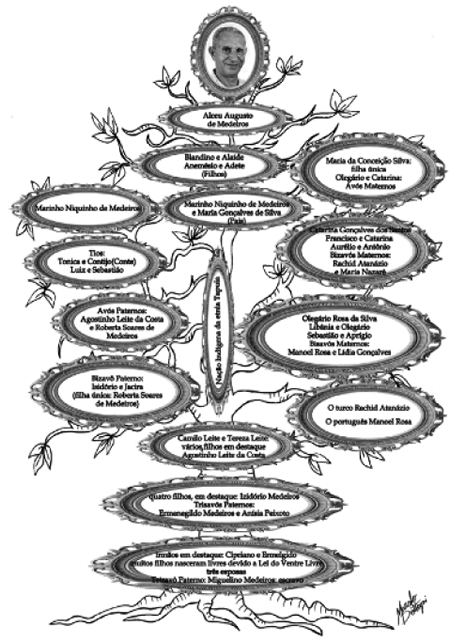
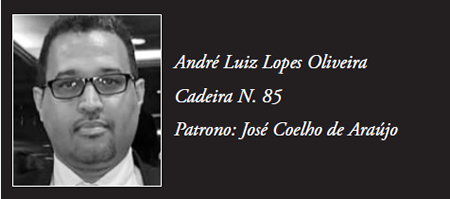
DA
CADEIA PÚBLICA DE MONTES
CLAROS AO PRESÍDIO: REGISTRO
HISTÓRICO DA TRANSIÇÃO DAS
ESTRUTURAS DE GESTÃO PRISIONAL
“Liberdade
é uma palavra que o sonho humano alimenta, não
há ninguém que explique e ninguém que
não entenda.” Cecília Meireles
Do
Arraial das Formigas até Montes Claros, muita história
foi construída e desde os tempos de arraial, o embrião
da cadeia pública, de alguma forma foi fecundado. Passaram-se
décadas, e a cidade foi crescendo e da mesma forma
a criminalidade também.
Passando para a história mais moderna do antigo arraial,
em 1986 a Administração Pública Municipal
inaugura a Cadeia Pública da cidade, localizada à
Av. Engenheiro Rolando Trindade, nº 140, Jardim Alvorada.
A Cadeia de Montes Claros desde aquela data até o dia
1º de março de 2007 foi dirigida pela 8ª
Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o Diretor
da Cadeia era um Delegado de Polícia, e a vigilância
externa era feita pelo 10º Batalhão de Polícia
Militar por meio do Pelotão de Guardas, quando
então o Sistema Carcerário Mineiro
passou por transição, transição
esta que ainda está em curso.
O governo do Estado de Minas Gerais no ano de 2002 reformulou
a Secretaria de Segurança Pública (SSP/MG),
e criou um sistema mais moderno, a Secretaria de Estado de
Defesa Social (SEDS), dentro desta estrutura foi criada a
Subsecretaria de Administração Penitenciária
(SUAPE), que em 2007 teve seu nome mudado para Subsecretaria
de Administração Prisional (SUAPI) e posteriormente,
em 2015 esta Secretaria foi extinta, surgindo assim duas novas
Secretarias, sendo elas, a de Administração
Prisional – (SEAP) onde os Agentes Penitenciários
ficaram lotados e a de Segurança Pública onde
os Agentes Socioeducativos foram alocados. Com a chegada do
Partido Novo ao Governo do Estado, que possui visão
Liberalista e foco no enxugamento da máquina estatal,
este que subscreve fez parte de um grupo temático que
ajudou a discutir os ajustes iniciais na estrutura inflada
dos Sistemas Prisional e Socioeducativo de Minas e deste estudo
surgiram ideias e algumas destas ideias se tornaram efetivas,
sendo assim, a antiga SEAP, se tornou hoje Departamento Penitenciário
do Estado de Minas Gerais – DEPEN-MG e vem recebendo
de forma gradual as cadeias públicas e penitenciárias
que eram administradas pela Polícia Civil, onde ainda
atuam como diretores Delegados de Polícia.
A
Cadeia Pública de Montes Claros passou por esta transição
em 1º de março de 2007, quando seu último
diretor, o Delegado Dr. Saulo Gomes Nogueira entregou a, direção
para o Ten. Cel. PM QOR José Afonso Ferreira Filho,
que chegou com a árdua missão de coordenar a
mudança de paradigmas em se tratando de Sistema Prisional
na Região Norte Mineira.
Neste
processo de transição, o Diretor trouxe consigo
sete Agentes, dentre eles, dois Supervisores de Segurança,
Elias Marcos Damasceno que atuou como Supervisor de Segurança
Externa que
lhe coube criar e comandar a equipe de escolta e Milson Damião
Vieira, Supervisor de Segurança Interna, a este coube
criar o trânsito interno dos detentos e gerir a vigilância
nas muralhas.
Em
13 de novembro de 2007, foi inaugurado na cidade, mais um
prédio para custodiar os indivíduos privados
de liberdade, sendo ele o Presídio Regional de Montes
Claros com cerca de 600 vagas, situado no bairro Jaraguá
II, para lá foram transferidos quase 500 presos que
viviam na antiga cadeia onde a capacidade era de para 120
custodiados. Com a inauguração do Presídio
Regional o Ten. Cel. Afonso estrategicamente deslocou o então
Diretor de Atendimento e Ressocialização da
Penitenciária de Francisco Sá, o Administrador
Geraldo Dias de Carvalho Júnior, mais conhecido por
Geraldo Júnior que assumiu a Cadeia como Diretor Adjunto,
momento em que totalmente assumida pela SUAPE, a cadeia recebe
nova nomenclatura vindo a se chamar Centro de Remanejamento
de Segurança Prisional (CERESP).
Com
a evolução do Sistema Prisional no Norte de
Minas o Ten. Cel. Afonso passa a ser Diretor Regional e o
CERESP é elevado a Presídio Alvorada de Montes
Claros e o Diretor Adjunto Geraldo Junior é nomeado
Diretor Geral do Presídio Alvorada.
O Diretor Geraldo Júnior, desde sua chegada desempenhou
um trabalho diferenciado, onde focou em duas vertentes: a
primeira foi com relação à gestão
dos Recursos Humanos e a segunda foi a ressocialização
dos encarcerados. Ao trabalhar estes dois pontos o Diretor
Geraldo Júnior elevou o Presídio Alvorada a
um grau de excelência e com isso serviu como modelo
entre os demais presídios do mesmo porte no Estado,
vindo inclusive a receber prêmios de destaque e excelência,
Geraldo Júnior deixou o Sistema Prisional no primeiro
trimestre do ano de 2015.,
O
Presídio Alvorada, após o último Delegado
de Polícia Civil a dirigir, teve dois Diretores Gerais
nomeados já pelo Sistema Prisional até que este
que subscreve, atuando como Diretor Adjunto do Presídio
Alvorada de Montes Claros e respondendo pela Direção
Geral passou as funções ao primeiro Diretor,
agente penitenciário de carreira em maio de 2015. Observa-se
que este é um pequeno pedaço da história
da gestão prisional no Norte de Minas, história
essa que contou com a participação de grades
homens que exerceram função de Direção
Prisional entre os anos de 2004 quando a Penitenciaria de
Segurança Máxima de Francisco Sá foi
inaugurada até o ano de 2015 quando os agentes de carreira
começaram a assumir as direções das unidades.
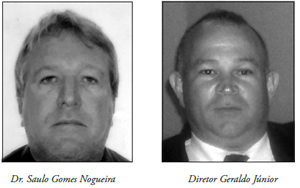
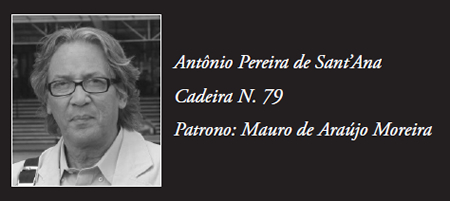
NAVE
DE PASSAGEM
Quando
me buscares, não mais estarei aqui, não quero
ser o último a embarcar nessa nave de luz. O vento
já vem soprando em busca dos retardatários da
vida, a nave não espera por ninguém. A sombra
da tarde confunde os rostos dos que ficam e a lua ilumina
a face dos que querem ir. Dos que saem pelos caminhos que
um dia foi prometido para que não houvesse nenhum lamento
nos olhos dos meninos e meninas, dos filhos e filhas do trabalho
honroso ou escravo, dos puros e dos delinquentes, dos anjos
que não foram para a catequese quando chamados.
Se
me olhares nos olhos não verás o brilho que
carrego e não entenderás o meu rosto, e jamais
verás a luz que trago n’alma. Tenho todos os
sonhos adormecidos, que foram escritos em tempos pretéritos.
São rabiscos feitos em papeis avulsos que mantenho
guardados na mente que ainda está sã e sonhadora,
mesmo com esses contratempos de ventos e sombras que sopram
em todas as direções, fazendo vítimas,
indiscriminadamente: negros, brancos, pardos, europeus, americanos,
do norte e do sul, e tantas outras raças por esse mundo
afora.
Ainda
com tudo isso, a minha mente viaja em devaneios, que são
permitidos nas noites quentes de lua cheia, ou mesmo na lua
minguante. A lua nos remete a delinquir. Ela sugere pecados
que serão perdoados assim que a nave chegar ao ponto
final.
Quando
voltares, verás que minha mala já não
está sobre o guarda-roupas do quarto como de costume.
O mesmo quarto onde deitei para dormir à espera da
tua companhia, sem contudo ter feito um poema que falasse
de amor, ainda que em rimas de dor, como são os mais
lindos, e que são lidos as lágrimas pelas criaturas
que teimam em amar.
O
amor, tão grandioso como é, deveria criar uma
luz de felicidade eterna, mas não! Ele está
sempre na dor, a espera do fim, seja pela perda do ente querido
ou pela traição do hipócrita que existe
em cada personagem seja real ou fictícia.
A
luz da nave dá o sinal de partida. Não há
uma chamada por ordem alfabética, todos devem estar
atentos a tudo a sua volta.
Naquela
primeira noite da viagem ficamos todos juntos prestando muita
atenção ao noticiário. As conversas foram
diminuindo a medida que o tempo passava. Na embriaguez do
sono eu observei que mesmo a nave estando em alta velocidade
algumas pessoas continuavam a entrar e se acomodarem nos bancos.
Eu tive uma pequena dúvida se eram de fato pessoas
ou simples espíritos que estavam em busca dos seus
corpos, e essa preocupação tirou-me o sono:
seria eu, também, um espirito?
Saí
a andar pelo corredor da nave. Tentei falar com as pessoas
ou com os espíritos, mas ninguém me ouvia, ou
fingiam não ouvir. Então resolvi voltar ao meu
lugar. Não o mais encontrei. Todos os lugares eram
iguais, nada identificava onde eu estava anteriormente.
Eu
não tinha levado nada para essa viagem, nem a mala
eu consegui localizar. Acho que na correria eu a deixei em
cima do guarda-roupas, deve ter sido isso mesmo, não
me lembro de têla trazido comigo. Recostei em um canto
qualquer e esperei o dia clarear para eu poder me orientar
direito. O silêncio era quase total, um pequeno zumbido
vinha da parte traseira da nave, agora já não
sei direito se traseira ou dianteira, tudo era igual. O barulho
parou, só eu estava acordado, as janelas continuavam
abertas, ninguém mais entrava como antes, parece que
as pessoas já estavam cansadas: todas dormiam profundamente.
Comecei a me preocupar, o dia não clareava!
Olhando pela janela, eu não via a lua, tão pouco
as estrelas. Eu não tinha um relógio de pulso.
Como saber as horas? Ao passar a mão pelo pulso notei
que batia lento, quase parando. Contei as batidas, não
passavam de umas poucas dezenas, acho que menos que quarenta
e poucas, saí andando a procura de alguém que
pudesse me socorrer, que pudesse medir os meus batimentos
cardíacos, quem sabe encontrar ali um médico
cardiologista ou mesmo o seu espirito, tomara que ele não
tenha esquecido o seu estetoscópio como eu esqueci
a minha mala. O desespero foi tomando conta de mim, eu gritei
alto, uma, duas, três ou mais vezes, o meu grito não
era ouvido, comecei a tossir um cheiro de mofo invadiu o espaço
onde eu me encontrava. Eu não via outra saída,
a não ser ir pra janela, tentar respirar um ar puro.
Porra nenhuma o cheiro de mofo vinha exatamente daquela janela,
corri pra outra, o mesmo cheiro a me sufocar, aí não
teve outro jeito, gritei novamente desesperado, agora eu clamava
a Deus por um pneumologista, ninguém me ouvia, moço,
moço meus pulmões estão carregados, nada.
Ninguém naquele lugar me ouvia. Num impulso derradeiro
me atirei da janela... Graças a Deus era um sonho.
Esse coronavírus ainda vai nos deixar loucos!
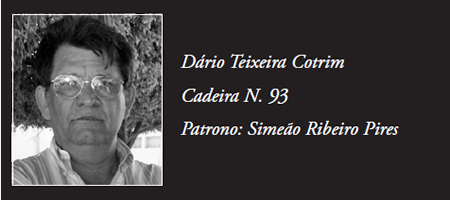
ALDEMAR
MARQUES DA SILVA
in memoriam |
|
Em
pouco tempo o Instituto Histórico e Geográfico
de Montes Claros perdeu, para o COVID-19, três dos seus
associados efetivos: Aldemar Marques da Silva, Harlen Soares
Veloso e Américo Martins Filho. Em conformidade aos
confrades Harlen e Américo, eles revelavam-se as suas
preferências como pesquisadores e estudiosos da história
regional e da genealogia. Por outro lado, o jovem Aldemar,
que era gestor ambiental, foi um defensor aguerrido do meio
ambiente da cidade em que nasceu.
Ainda com relação a Adelmar, podemos dizer que
em toda parte era ele um vencedor. Por que? Porque possuía
ele, na verdade, uma vontade indomável de vencer todos
os obstáculos que ousassem lhe atravessar o caminho
do sucesso. No Instituto Histórico ele permaneceu por
aqui um pouco menos de três meses, mas o suficiente
para deixar uma infinita saudade entre os seus pares. Nota-se
que Aldemar fazia uso de todos os métodos para compor
a sua primeira e única obra literária: o Senhor
do Castelo, um livro em que “o leitor tem em mãos
uma obra produzida por um escritor novato, mas dotado de uma
capacidade incrível de retratar os meandros da vida
no sertão-mineiro e goiano do início do século
XX, através de muitas histórias de vida que
se cruzam,”. Sabemos, ainda, que ele era dotado de uma
espiritualidade criativa semelhante às de alguns escritores
do Instituto Histórico e Geográfico e, por essa
razão, a sua partida tão inesperada causou-nos
uma interrogação sem precedentes no mundo da
literatura.
No egrégio Instituto Histórico e Geográfico
de Montes Claros, o escritor Adelmar Marques da Silva ocupava
a cadeira número dois, que tem como patrono o saudoso
Dr. Alfredo de Souza Coutinho. A sua cadeira será ocupada
por força do Estatuto, mas a sua lembrança,
esta jamais será esquecida, haja vista que ela já
se encontra registrada nos anais do nosso egrégio Instituto
Histórico e Geográfico.
Por fim, inesperadamente, o jovem Aldemar passa a ter a sua
fala em silêncio, em virtude do COVID-19, onde uma onda
de admiradores somente pode lhe aplaudir pela sua vitoriosa
carreira de professor universitário, sem ao menos,
exibi, para tanto, o seu testemunho de amor e de fé.
O nosso Instituto Histórico e Geográfico está
de luto. De luto uma, duas e três vezes neste fatídico
cenário da pandemia do corona-vírus. No álbum
fúnebre do Instituto, onde Alphonsus Guimaraens registrou
num epitáfio para o túmulo de um amigo, foi
assim gravado: “A morte vem de manso, em dia incerto
e fecha os olhos dos que têm mais sono...”. Mas,
nada poderá apagar a magnitude de seus sonhos, quando
cumpriu tão nobremente a sua missão em prol
do desenvolvimento das pesquisas, com a integridade e a dignidade
que hoje merecem para sempre a gratidão dos seus amigos
e confrades de Instituto.
Aldemar Marques da Silva nasceu no dia 18 de junho de 1976,
nesta cidade de Montes Claros. Era filho de Domingos Marques
da Silva e de dona Maria Rosa Marques da Silva. Foi casado
com Márcia Aparecida Pereira Silva e pai de duas crianças.
Desde muito pequenino que a natureza lhe encantava, sobremaneira,
com o voo dos pássaros, com o perfume das flores, com
a luz do dia e o luar da noite. A sua fé religiosa,
que o acompanhava durante as suas orações diárias,
fora o motivo de profundo silêncio para a sua bondosa
alma.
LEONARDO
A. DA SILVA CAMPOS
in memoriam |
|
O
Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros
ficou muito mais pobre com a morte prematura do associado
Leonardo Álvares da Silva Campos. Ele nasceu em 3 de
junho de 1953, nesta cidade de Montes Claros, era filho de
Bento Álvares da Silva Campos e de dona Terezinha Peres
Álvares da Silva Campos. Deixou registrado uma vasta
e interessante biografia sobre as suas obras e a sua vida,
pois era um gênio de múltipla facetas e, que
haverá de ser perpetuamente lembrado como sendo um
dos mais denodados vultos da história de Montes Claros,
pois são os fatores que levam o homem a elevar-se de
um simples posse de talento, ou de talentos, à genialidade
dos fatos. Leonardo era, verdadeiramente, um gênio!
Foi, pois, Leonardo Campos, desse ponto de vista, um pioneiro
da pesquisa, um dos primeiros a ter consciência de que
o homem primitivo no Norte de Minas merecia estudos relevantes,
mesmo por parte de outros pesquisadores e historiadores, numa
época em que ainda os seus trabalhos da antropologia
não passavam de divagações filosófico-literários
e, sobretudo, na parte que diz respeito às coletas
no interior das grutas em nossa região, numa legião
de indivíduos sempre liderada por Simeão Ribeiro
Pires e José Alves de Macedo. Pois bem, se nenhum outro
mérito tivesse o seu livro “O Homem Primitivo
no Norte de Minas”, os seus escritos sobre esses mesmos
assuntos, publicados em nossa revista, bastariam para justificar
uma nova edição do seu livro, isso no mesmo
estilo acadêmico e sob a supervisão do egrégio
Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros.
É verdade que os seus livros têm hoje um lugar
de relevo na literatura montes-clarense, isso porque o seu
valor maior foi, além de incorporar na própria
vida do povo sertanejo o conhecimento de suas origens, também
o de relatar histórias como a de “Saluzinho”,
um camponês que foi acuado pelas forças do poder
de mando de pessoas inescrupulosas de nossa sociedade.
Então, a nossa cidade da arte e da cultura, mais uma
vez se encontra em completo e lastimoso luto. Luto pela morte
abrupta do nosso associado Leonardo Campos. A sua partida
para a outra dimensão nos deixará um vazio,
sem precedentes, em nossos corações, pois era
ele um homem sincero e polêmico nos seus debates; uma
pessoa inconstante nos seus afazeres e um forte e integro
na defesa de suas teses, as que sempre argumentava, sem constrangimentos,
sobre tudo o que lhe valia para a compreensão do universo
e da origem do ser humano.
Note bem que, acerca do trabalho que ele realizou durante
toda a sua vida, nós assim escrevemos para uma reflexão
mais sensata: não sei como o povo da minha terra o
julgará no futuro, mas para mim, parece-me que foi
um escritor que brincava com as palavras de um texto escrito,
uma vez que ele encontrava na crosta terrestre um pedaço
de pedra lascada, ou um pequeno osso petrificado, sempre registrava
essas descobertas em seus livros e/ou apostilhas, para a construção
de nossa história.
Neste
mês de abril, o nosso Instituto esteve em pânico!
A memória dos que já foram jamais será,
por nós, olvidada. O passamento levou-nos para sempre
os associados Aldemar Marques da Silva, Harlen Soares Veloso
e Américo Martins Filho. E, agora, a morte suprime
do nosso convívio de entretenimento, a alegria e a
sapiência jovial de Leonardo Álvares da Silva
Campos. No Instituto Histórico e Geográfico
de Montes Claros ele ocupava com galhardia e competência
a cadeira de número noventa e sete, que tem como patrono
o saudoso historiador Urbino Vianna. Presentemente, o céu
montes-clarense se transformou num crepúsculo carmesim,
com a tonalidade da saudade e os traços misturados
na infinita dor, numa triste hora de dizer-lhe adeus. Adeus,
meu velho amigo e estimado confrade paleontólogo, doutor
Leonardo Álvares da Silva Campos! Requiesce in pace!
HARLEN
SOARES VELOSO
in memoriam |
|
Pesquisadores
houve a quem a história os chamou de grandes porque
escreveram documentários que sempre delinearam o progresso
de um lugar, a formação de uma família
e a fé de um povo nos acontecimentos dos fatos. Outros,
porém, sobreviveram na invenção da Internet,
ocupando espaço de difícil acesso para a fama
literária e sem se dá conta da tecnologia avançada
no mundo. Entretanto, o investigante Harlen Soares Veloso,
na sua vocação de historiador, catalogou em
suas pesquisas, sem muita preocupação com a
fama e
nem com a modernidade da história, o que sempre desejou
fazer, visitando in loco os lugares que verdadeiramente lhe
inspirava numa doce paixão. Era, por assim dizer: uma
paixão pela história e pela genealogia, baseada
nos velhos documentos que antes pouco interesse havia despertado
nas pessoas, aquando da sua inaugural inspeção.
Desde os seus primeiros escritos que ele se sentia invadido
por uma curiosidade contundente dos fatos, em razão
as descobertas de registros sobre os templos e os casarões
abandonados no coração da sua terra natal. Tudo
lhe fascinava com encanto. Tão árdua era o seu
esforço que, numa simples expedição pelas
prenhas elevadas das Sete Passagens, ele revelava todos os
caminhos do decamão que levaram os
baianeiros à conquista das terras neste sertão
verdejante do Juramento, no Norte de Minas.
Todos esses dotes e o espirito ambicioso arrastaram-no para
o Instituto Histórico e Geográfico de Montes
Claros, com a promessa de resgatar a memória de sua
terra. Além disso, Harlen sabia mais (mais do que alguns
escritores que dedicaram a vida inteira a esses assuntos)
de como iniciar a sua arrojada pesquisa e dela tirar o maior
proveito para o conhecimento da narrativa dos acontecimentos.
Harlen escreveu crônicas a respeito das origens dos
Veloso no Norte de Minas, na figura do coronel Gregório
José Veloso, “como relata Rui Veloso Versiani
dos Anjos na obra A História da Família Versiani”.
Também teceu comentários sobre o bicentenário
do Dr. Carlos Versiani, ainda sobre a igrejinha de Catarina
e no que concerne ao sobrado da fazenda Lambari e da família
dos Maurício ele fez constar nos anais da Revista do
Instituto todo o enredo de suas existências. Assim como
as tradições e os costumes do povo de antigamente
- As Festas de Agosto e a Cavalhada – que foram sempre
assuntos de seus estudos preferidos. Sobre a igreja de Catarina,
anotamos abaixa um registro que ilustra muito bem a importância
do templo. Vejamos:
Os apreciadores da história de Minas Gerais procuram,
em vão, descobrir o segredo da paixão pela arte
de historiar, assim como fez o nosso saudoso confrade Harlen
Soares Veloso. O seu trabalho de resgate histórico
sempre será lembrado por todos os seus pares, em qualquer
tempo, do Instituto Histórico e Geográfico de
Montes Claros, haja vista a sua importância em documentar,
com fundamento autêntico dos fatos ocorridos no passado,
para o conhecimento de uma nova geração. Harlen
ocupava a cadeira de número 26, que tem como patrono
o ilustre escritor montes-clarense Cyro dos Anjos, e que certamente
será destinada para um membro de sua família
com o objetivo de preservar a sua memória imperecível.
AMÉRICO
MARTINS FILHO
in memoriam |
|
Ainda
agora se pode contemplar, no Trevo dos Tropeiros, a belíssima
escultura de ferro dedicado aos tropeiros do Norte de Minas,
que foi oferecida por Américo Martins Filho ao povo
de Montes Claros. Entretanto, o seu idealizador foi acometido
pela COVID-19 e, infelizmente, perdeu a sua última
batalha. Este moço, valente, trabalhador, visionário
desde muito cedo, se interessou pela defesa ambientalista
de nossa terra e pelo resgate memorial do nosso povo. Ele
era filho de Américo Martins e de dona Rudofida Soares
Coutinho, nasceu em Montes Claros no dia 26 de setembro de
1939, cidade que ele amava de coração.
No Sítio da Rocinha, onde ele morava, era Américo
um autêntico benemérito do tempo, como demonstrou,
particularmente, no caso do apego aos cachorros abandonados
pelas ruas da cidade. Será que as suas notáveis
realizações, no sentido estritamente humano,
nos apresentam um mistério insondável onde tentamos
penetrar? Sim, mas isso não é tudo. Das centenas
de benfeitorias realizadas por ele, podemos ainda destacar
a sua coleção de jornais antigos, um legado
imprescindível para o resgate da história de
nossa cidade em conformidade com os fatos acontecidos. Na
verdade, o confrade Américo Martins Filho era diferente
de todos, abastado financeiramente,
nunca se isolou dos amigos e nem se contaminou da mosca azul
pela riqueza de teres e haveres. Era ele dotado de uma espiritualidade
semelhante às de alguns dos mais dignos dos seres humanos,
pleno de visões sublimes e de paixão moral.
Esta concepção de nobreza, que o acompanhou
por toda a sua vida, teve grande influência no seu espírito
de homem temente a Deus.
Por outro lado podemos dizer que era um mecenas na cultura.
Contribuía de todas as formas para as belas-artes de
sua comunidade. Não seria por acaso que o seu espirito
de colecionador lhe permitiu a reunião de vários
carros antigos em sua Casa de Festas. A glória alcançada
por este grande homem foi motivo de muita alegria, tanto no
seio de sua família, como no meio dos seus amigos.
Hoje, a cidade de Montes Claros lhe deve continências
pelos seus atos de coragem e determinação na
condução vitoriosa de seus projetos para minimizar
o sofrimento de seus semelhantes e dos animais abandonados
aleatoriamente.
Mas, a sua obra não desaparecerá com a sua morte.
Isso acontece por ele tê-la feito em alicerces fortemente
armados com pedras e cimento. Sem dúvida que os seus
filhos haverão de encontrar uma maneira de reunir fatos
determinantes para compor a sua belíssima biografia.
O Instituto Histórico e Geográfico de Montes
Claros tem a obrigação de iniciar uma pesquisa,
junto com a família, para catalogar os feitos mais
relevantes num documentário e fazê-lo incontinentemente.
Assim, no julgar dos relatos de suas ações,
é nosso dever, como também de outros, sustentar
obstinadamente o direito de se fazer o seu sonho realizado.
Faleceu Américo Martins Filho na mesma cidade onde
nasceu, no dia 12 de abril de 2021. Ainda agora se pode contemplar,
no Trevo dos Tropeiros, a belíssima escultura de ferro
dedicada aos tropeiros do Norte de Minas, na saudade imorredoura
do seu doador Américo Martins Filho!
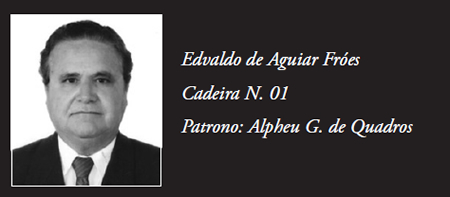
A
MUDANÇA PARA UM CENTRO MAIOR: MONTES CLAROS
Depois
de quase seis anos naquela pequena cidade, Jansen tomou uma
importante decisão: clinicar e operar num Centro Médico
maior, de maiores recursos propedêuticos e hospitalares.
Durante 06 meses ficou prestando seus Serviços, uma
vez por semana, no Hospital, onde iniciara sua atividade profissional.
Bem sabia, que novos desafios surgiriam, exigindo atualizações
frequentes e dedicação total à sua profissão!
Nos próximos capítulos, novos casos serão
contados, ora rotineiros, ora raros, com resultados variados:
ótimos, bons e maus, pois o antigo aforismo bem conhecido
por todos nós afirmava: “Em Medicina não
existem doenças, existem doentes”.
Cada paciente reage de maneira peculiar à mesma doença,
ou seja, cada caso é um caso.
E
aquele outro aforismo em francês, repetido pelos seus
mestres: “La Medicin c’est come la mour, ni jamais,
ni toujour”.
E mais, em Medicina o que é comum é comuníssimo
e o que é raro é raríssimo! Assim, o
Médico deve se atualizar durante toda a Vida Profissional,
pois somente fará o diagnóstico das patologias
que conhece!
OUTRO CASO DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA
PENETRANTE NO ABDOMEN
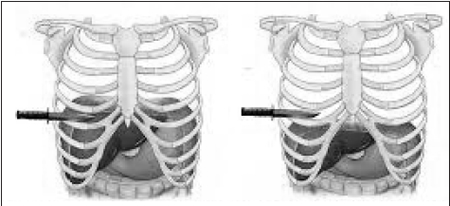
Deu
entrada no Hospital um paciente, proveniente da zona rural,
apresentando um ferimento por arma branca (faca) ao nível
do mesogastro, próximo ao umbigo, com exteriorização
de parte do grande epiploon (tecido gorduroso que proteje
as vísceras abdominais).
Após o exame clínico minucioso, coleta de sangue
e urina para exames, venopunção para injeção
de medicamentos e soroterapia, dissecção de
veia no braço para maior segurança e jejum absoluto,
Jansen telefonou para o Anestesista da cidade vizinha, chamando-o
para a cirurgia de urgência: Laparotomia Exploradora.
Tudo
foi devidamente preparado na pequena Sala Cirúrgica
pela competente Enfermeira e suas auxiliares e assim que o
Anestesista chegou acompanhado do auxiliar de cirurgia, iniciou-se
o ato operatório.
Constatou-se uma perfuração na alça intestinal
do delgado (jejuno), procedendo-se a enterorrafia em dois
planos, após desbridamento local, limpeza da cavidade
com solução fisiológica, colocação
de um dreno de Penrose no local com exteriorização
do mesmo em abertura contra lateral, seguida do fechamento
da parede abdominal.
Pós operatório rotineiro, com hidratação,
antibióticos, analgésicos e jejum até
o retorno dos movimentos peristálticos: em torno de
03 dias, além do anatox tetânico I.M.
Tudo transcorria normalmente quando, após uma semana,
instalou-se um quadro de Obstrução Intestinal
(vômitos frequentes, distensão abdominal progressiva,
com timpanismo aumentado e parada de eliminação
de gases e fezes).
Um RX Simples do Abdomen em ortostatismo (paciente de pé)
mostrou níveis hidroaéreos, selando o diagnóstico.
Uma reintervenção foi marcada imediatamente,
com o mesmo Anestesista e auxiliar, jejum e sonda nasogástrica.
Na Laparotomia constatou-se a presença de numerosas
bridas (aderências) levando a angulações
de alças do delgado, muita distensão e início
de “sofrimento das mesmas”.
Feitas as secções cuidadosa das bridas, usando
soro fisiológico morno umidecendo as compressas e conferindo
as posições adequadas das alças, procedeu-se
a drenagem da cavidade abdominal e fechamento da parede.
Porém, surgiu no 5° dia do pós operatório
mais uma temível complicação: uma fístula
do intestino delgado, com saída do seu conteúdo
através do dreno (líquido amarelado).
Adotou-se
o tratamento conservador, com proteção da pele
em torno da fístula com pomadas e troca dos curativos
frequentes para evitar a autodigestão, hidratação,
antibióticos, analgésicos, manutenção
da sonda nasogástrica para aspiração,
transfusão de sangue total para melhora do estado geral,
inclusive a proteinemia.
Assim que voltaram os movimentos peristálticos, com
eliminação de gases e as condições
gerais foram melhorando, a vazão da fístula
foi diminuindo e o paciente voltou a alimentar-se por via
oral e a deambular na Enfermaria.
Permaneceu internado por um mês, mas se recuperou!
Foi realmente um caso complicado que serviu de mais experiência
para o jovem cirurgião!
OUTRO CASO DE PERÍCIA NA ZONA RURAL: SUICÍDIO
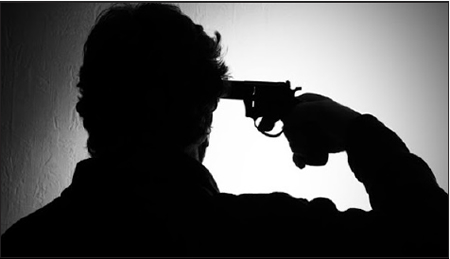
Outro
fazendeiro amigo, da região de Vaca Brava, procurou
o médico para acompanhá-lo, juntamente com o
Delegado Municipal e seus dois policiais, até a sede
de sua fazenda, à noite, em torno das 20:00 horas.
Tratava-se
de um lamentável caso de morte devido ao ferimento
penetrante no ouvido direito, por arma de fogo, revólver
calibre 38.
Era uma mulher de 55 anos de idade, que morava na sede da
fazenda e fora criada pelos pais do fazendeiro, tendo sido,
inclusive babá dele e de seus irmãos, sendo
assim admirada e querida por todos os familiares.
Adentrando ao quarto, onde se encontrava a moribunda, Jansen
observou, com redobrada atenção, todo o ambiente,
notando a arma de fogo caída ao seu lado, com sinais
nítidos de chamuscamento pela pólvora na mão
e na orelha direitas, sem outros sinais que denunciassem luta
corporal prévia. Um fio de sangue coagulado havia
escorrido do conduto auditivo externo.
Concluiu, assim, que se tratava de um caso de suicídio
e prontificou-se a preencher o Laudo Pericial e o Atestado
de óbito.
Era mais um caso da área da Medicina Legal, bem desempenhado!
UM
CASO DE ENVENENAMENTO COM ARSÊNICO
Um chamado urgente para o Dr. Jansen atender um idoso fazendeiro,
morador na própria fazenda a 02 KM da cidade, apresentando
quadro súbito de vômitos e diarreia, seguida
de sangramento retal. O quadro clínico era dramático:
desidratação intensa, sudorese profusa, palidez,
agitação, taquicardia, pulso fino, hipotensão
arterial: estava instalado o “ estado de choque hipovolêmico”.
Uma anamnese rápida revelou, através dos familiares,
que o paciente ingerira um pedaço de bolo por ele preparado
com uso de
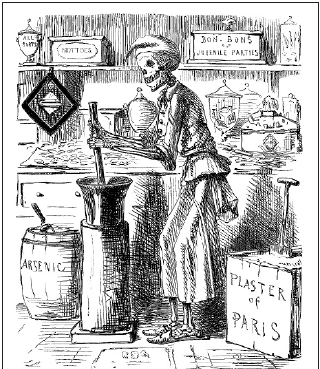
uma
substância branca confundida com bicarbonato de sódio
que, na realidade, tratava-se de arsênico. O seu antídoto
natural é o leite, mas
ele não deglutia, devido a agitação intensa
e os vômitos.
Foi transferido imediatamente para o Hospital, bem perto dali
e iniciado o tratamento com soroterapia, através de
dissecção de veia do braço, antiemético,
oxigenioterapia por catéter nasal, coleta de sangue
para classificação e prova cruzada para transfusão
de sangue total e sonda nasogástrica para injeção
de leite.
Infelizmente,
o paciente não respondeu à terapêutica
instituída e veio a falecer horas depois, com o preenchimento
do Atestado de Óbito, como ”causa mortis”
de envenenamento com arsênico!
São os ossos do ofício, bem sabia o jovem Médico!
UM
CASO DE TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO

De
repente, adentram à sala de espera do Hospital, dois
policiais destacados na cidade, conduzindo um fazendeiro local
que havia disparado um tiro no seu peito esquerdo, com o próprio
revólver, calibre 38!
Os familiares que o acompanhavam relataram que tal desatino
ocorrera por conta de dívidas com agiota bastante conhecido
por todos, levando-o ao desespero total.
O exame minucioso do paciente demonstrou agitação
intensa, mucosas descoradas, sudorese fria, pulso filiforme,
taquicardia, ou seja, estado de choque hipovolêmico
de causa hemorrágica.
O orifício de entrada do projétil encontrava-se
na altura do 5° espaço intercostal esquerdo e o
orifício de saída do lado direito do dorso.
As bulhas cardíacas estavam audíveis, com frequência
elevada, demonstrando que, por sorte, a bala não atingira
o coração!
A
eficiente Enfermeira conseguiu puncionar uma veia periférica
e iniciou-se a infusão de soro fisiológico,
rapidamente, com coleta de sangue para classificação
ABO-Rh e prova cruzada em lâmina e, no caso, os doadores
foram os próprios policiais já cadastrados no
Hospital.
Após as duas transfusões e soroterapia o choque
foi revertido, sendo feito um RX de Tórax, com o paciente
deitado, apenas para orientação imediata, pois
as condições técnicas foram ruins, com
provável derrame pleural.
Em seguida, o paciente apresentou vômitos escuros e
o Jansen pensou na hipótese de lesão de esôfago
ou fundo gástrico, além da necessidade de melhor
avaliação da cavidade torácica (hemopneumotórax)?
Decidiu-se, assim transportar o paciente para um Centro de
maior recurso, distante 50 Km.
Lá chegando, foi realizado outro RX de tórax
e um exame contrastado do Esôfago- estômago, constando-se
apenas hemopneumotórax volumoso à esquerda.
O paciente foi internado na Santa Casa, onde o próprio
Jansen realizou a drenagem em selo d’água do
hemitórax esquerdo, com saída de grande quantidade
de sangue e ar, com nítida melhora da respiração,
além de nova hemoterapia e hidratação
venosa e exames de rotina para avaliação.
Um colega do Hospital, passou a cuidar daquele caso até
a sua alta, com bom estado geral, enquanto Jansen retornara
à cidade onde trabalhava, fazendo os controles ambulatoriais
naquele paciente, com apoio psicológico e dos seus
familiares.
Aquele ato de desespero total, felizmente, terminou bem!
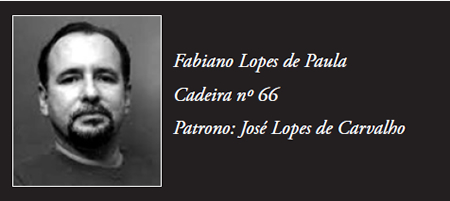
A
ARTE DA FOTOGRAFIA, SUA
INFLUÊNCIA NAS ARTES PLÁSTICAS
E O TRABALHO DE FOTÓGRAFOS DO
SÉC. XX NO NORTE DE MINAS
Resumo:
Representar ideias, emoções e sentimentos por
meio de formas e cores tem sido, desde a pré-história,
habilidade do homem. Sempre associados à observação.
Das mais remotas pinturas rupestres às pinturas dos
tempos egípcios e nos séculos seguintes, as
artes passaram por grande evolução até
que surgiu a objetiva fotográfica para auxiliar o lápis
e o pincel. O desenvolvimento da técnica e da arte
fotográfica aconteceu rápido em todo o mundo.
O Norte de Minas conheceu esse invento através de fotógrafos
viajantes que passaram por aqui e ensinaram seus conhecimentos
aos que deles se interessaram.
Unitermos: Fotografia, história, artes plásticas,
documento, Norte de Minas.
Abstract:
Representing ideas, emotions and feelings through colors and
shapes has been since prehistoric times, man’s ability.
Always associated with the observation. The most remote cave
paintings to paintings of Egyptian times and during the following
centuries, the arts have undergone great evolution until it
emerged photographic objective to assist the pencil and paintbrush.
The development of technique and art happened fast worldwide.
The North of Minas met this invention by photographers travelers
who passed through here and taught his knowledge to them that
interested.
Key Words: Photography, history, fine arts, document,
North of Minas.
INTRODUÇÃO
O
invento da fotografia foi, na verdade, tentativas de aperfeiçoamento
dos métodos de impressão sobre o papel, dominados
pelos chineses no século VI e difundidos na Europa
e no resto do mundo nos séculos XVIII e XIX. Posteriormente,
esse invento chegou ao Brasil e teve no Imperador Dom Pedro
II um dos seus incentivadores, se tornando também um
apaixonado fotógrafo amador. São famosos os
registros que ele fez da família imperial em Petrópolis-RJ.
Em Campinas-SP, o ítalo-brasileiro Hércules
Florence desenvolveu a técnica com maestria e se tivesse
feito o registro da mesma poderia ter sido considerado o seu
inventor, porque só pouco tempo depois a patente foi
dada a Louis Daguerre, na França. A descoberta e exploração
do ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, trouxe na leva
dos aventureiros também alguns fotógrafos que
documentaram essa corrida pelo ouro e seguiram rumo ao interior
do Estado. No Norte de Minas, fotógrafos amadores e
profissionais cumpriram o papel de documentar a sociedade
em vários aspectos, tanto da vida privada, quanto da
vida pública além do cotidiano das cidades,
vilas e fazendas.
___________________________________________________________________
Historiador e Doutor em Arqueologia/Quaternário,
Materiais e Cultura – Universidade Trás dos Montes
de Alto Douro – Portugal/PT. Servidor do IEPHA-MG
___________________________________________________________________
O
PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO
O
Francês Joseph N. Niépce (1765 – 1833),
que antes de dedicar-se à fotografia, trabalhou muitos
anos para aperfeiçoas a arte da litografia, em 1826,
conseguiu registrar em uma folha de papel tratada quimicamente
a imagem de uma mesa num jardim. Já Louis Jacques M.
Daguerre, pintor e cenógrafo parisiense, conseguiu
em seguida reduzir o tempo de exposição, chegando
a criação dos “daguerreótipos”,
que em pouco se tornaram famosos na Europa. Outras pesquisas
conseguiram grandes avanços nos processos fotográficos,
não só das câmeras, mas também
dos químicos, filmes de gelatina e dos químicos
para a revelação. Com a técnica aperfeiçoada,
um número cada vez maior de pessoas começou
a fotografar. Nesse sentido, ninguém colaborou tanto
para a popularização da fotografia como George
Eastman Kodak (1854 – 1932), fabricante norte-americano
que revolucionou a fotografia ao comercializar a câmera
Kodak. A partir daí, “Kodak” passou a ser
sinônimo de fotografia. A fábrica de Eastman
recebia a câmera ainda com o filme dentro, revelava
e devolvia a máquina com
o novo filme. O sucesso foi imediato. O slogan que o consagrou
foi: “Aperte o botão que nós faremos o
resto”. Claro que a empresa Kodak só devolvia
as fotos que se salvavam com alguma qualidade, fazendo com
que os clientes se sentissem ótimos na nova tecnologia
que encantou o mundo. A fotografia passou de um modo rápido,
prático e barato a substituir a representação
até então realizada somente pelos pintores.
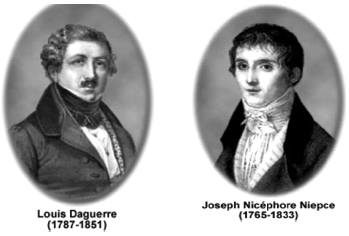
Inventores
responsáveis pela difusão da fotografia na França.
Fonte: MOLECULAR EXPRESSIONS, s/d.
O
DESENVOLVIMENTO DA FOTOGRAFIA NA EUROPA
No final do século XIX e início do século
XX, foi grande a influência da fotografia sobre quase
todos os artistas plásticos que se renderam à
mágica desse grande invento. Os impressionistas, na
França, principalmente Paul Cézanne, certa vez,
disse: “Ao pintar figuras humanas exigia uma imobilidade
quase absoluta e que tinha dificuldade em lidar com modelos
de nus”. Suas telas de banhistas foram pintadas com
o auxílio de fotografias. Edgar Degas, ao pintar “A
Orquestra da Ópera”, o fez numa perspectiva inusitada,
o quadro lembra um instantâneo fotográfico, ninguém
está posando e no palco as bailarinas estão
fragmentadas, como se, atento à figura central, o fotógrafo
não as tivesse considerado.
Também o grande Toulouse-Lautrec foi muito influenciado
pela fotografia e muitos outros grandes artistas. No caso
de Lautrec, chegou a fazer caricaturas bem humoradas em que
pousou como artista e como modelo numa truncagem fotográfica.

Primeiras
experiências de truncagem fotográfica realizadas
por Toulouse-Lautrec.
Fonte: EDITORA NOVA CULTURAL, 1991.
Estudiosos,
artistas e fotógrafos criaram, porém, uma grande
polêmica: seria a fotografia considerada uma arte, como
a pintura e a escultura, onde entravam diretamente a criação
humana? A resposta a esta questão veio com o artista-fotógrafo
Man Ray, que não se limitou a técnica e em seus
experimentos de laboratório criou efeitos especiais
e técnicas de distorção da imagem largamente
utilizadas até hoje. Criou também o fotograma,
ou seja, a fotografia sem câmera, sintetizada diretamente
no laboratório, levando assim a fotografia para o abstracionismo
e para o surrealismo. Brincando com luz e sombra, forma e
volume, criou arte pura. Mais tarde, essas inovações
foram utilizadas pelo professor de fotografia da Escola alemã
Bauhaus, Moholy Nagy, no desenho industrial, gráfico
e têxtil, depois disso foi e ainda é largamente
utilizado pela indústria em geral.
Outra inovação veio com o fotógrafo francês
Henry Cartier Bresson, que fez da fotografia uma séria
arma de denúncia e influenciou enormemente a criação
do fotojornalismo. Cartier, que foi um artista plástico
mal sucedido, encontrou na fotografia tudo o que precisava
e, nesse sentido disse, certa vez: “O aventureiro que
em mim habitava se sentiu compelido a testemunhar as cicatrizes
do mundo com um instrumento mais rápido que o pincel”.
Cartier Bresson com amigos criou ainda a primeira agência
para distribuição de fotografias para a imprensa,
a Magnum, que revolucionou e enriqueceu as publicações
no mundo todo. Essa agência ainda existe em Paris e
as fotos de Cartier se tornaram sinônimo de documento
e arte ao mesmo tempo. Considerado um dos mais fotógrafos
mais importantes do século XX, Cartier Bresson influenciou
as obras de Robert Doisneau, Willy Ronis e Edouard Boubat.
Além disso, teve suas fotografias colorindo revistas
de renome como “Life”, “Vogue” e “Harper’s
Bazaar”.

Henry
Cartier Bresson é o criador do conceito do instante
fotográfico. Foto: Cartier
Bresson. Fonte: GARÓFALO, 2013.
Do
acervo documental de Cartier Bresson, que mais do que ninguém
usou de arte para fazer um trabalho impecável, com
fotos que ainda emocionam, passando por uma série de
outros grandes artistas, a fotografia evoluiu até que
hoje, através da construção de imagens,
se tornou desobrigada de retratar informações
visuais, pausterizadas pela mídia e partiu para criações
através de manipulações químicas,
eletrônicas ou simplesmente a interferência manual
do fotógrafo artista, que buscará sempre a liberdade
à invenção, o estilo e a arte.

Fotomontagem. Foto: Elliot Erwitt (1989). Fonte: SOUZA,
2013.
A
FOTOGRAFIA CHEGA AO BRASIL
O
primeiro fotógrafo a desenvolver esses conhecimentos
no Brasil foi Hércule Florence, que na cidade de Campinas/SP,
como já dito, inovou a técnica e poderia até
ter patenteado seu invento, mas isso não aconteceu,
ficando a glória para o francês Louis Daguerre.
Dom Pedro II foi outra personalidade a se encantar pelo invento
da
fotografia. É trabalho dele grande acervo de retratos
da família imperial,
que hoje se encontra no Museu do Palácio Quitandinha
em Petrópolis/RJ. A fotografia teve também um
grande desenvolvimento em São Paulo, principalmente
as fotos de famílias italianas e imigrantes de outros
países que as enviavam para suas famílias que
ficaram em outros plagas. Os famosos lambe-lambes ou fotógrafos
de praça documentaram o desenrolar do século
XX, cumprindo assim um papel social.
Belo
Horizonte/MG, por exemplo, desde a sua origem importou artistas
europeus para edificar os seus palácios na Praça
Sete e seu entorno. Essas famílias também já
conheciam e praticavam a arte da fotografia, sendo todos os
passos da construção da capital documentados
e guardados em acervos públicos e particulares.
Em Diamantina/MG, um filho de Bocaiúva/MG, se tornou
o responsável por retratar a sociedade da época,
Francisco Augusto Alkimin (1886-1978), Chichico Alkimin, como
era conhecido, somente nesse início do século
XXI teve seu trabalho publicado, numa iniciativa de sua filha
Bernadeth Alkimim. Chichico, praticamente sem escola, sem
acesso a informação e distante das novidades
dos grandes centros, produziu retratos que surpreendem pela
qualidade técnica,
beleza e leveza, escreveu Flander de Souza (2005) ao apresentar
a rica obra:
“O olhar eterno de Chichico Alkimin”. Para Verônica
Alkimim França, neta do fotógrafo, seu avô
fez um registro único e incomparável da vida,
população, arquitetura e paisagem de Diamantina,
no início do século XX. Chichico abraçou
seu tempo, congelou instantes que não se repetem e
que transcendem o olhar.

Alunas
e Freiras em frente ao Colégio Nossa Senhora das Dores
– Diamantina/MG,
1922. Foto: Chichico Alkimin. Fonte: SOUZA; FRANÇA,
2005.
A
FOTOGRAFIA NOS CAMINHOS DO NORTE
Em
Montes Claros/MG, muitas pessoas se interessaram pela fotografia
e com o passar do tempo, alguns fizeram dessa técnica
sua forma de ganhar a vida. Destacamos, porém a família
Facella, tendo o patriarca vindo da cidade italiana, berço
do renascimento, Florença.
No início do século XX, aqui aportou e começou
a documentar, através de sua câmara, a vida da
então pacata cidade, ainda usando a técnica
do daguereótipo, ou seja, fotografando em placa de
vidro sensibilizadas com sais de prata, era o famoso fotógrafo
lambe-lambe, porque ainda usava a saliva como fixador da imagem
fotografada. Esse material ainda existe e poderia ser doado
a um museu ou centro de documentação, resultando,
depois de pesquisado, em um livro tão importante quanto
o de Chichico Alkimim. O patriarca da família Facella
retornou a Itália, depois de prestar relevantes serviços
à história local. Todo trabalho de pesquisa
sobre a história de Montes Claros que usar fotografia,
certamente contará com um ou mais trabalhos assinados
por Facella. Sua família ainda reside com Montes Claros,
inclusive num povoado que leva o nome da família, um
dos filhos seguiu a profissão ensinada pelo pai, e
por falta de ter esse material devidamente classificado e
organizado em coleções, alguma confusão
se faz entre os trabalhos do pai e do filho aprendiz, já
que assinavam do mesmo jeito. Todo esse acervo fotográfico
muito interessa a pesquisa histórica, é patrimônio
material de relevante valor e merece ser reunido, antes que
se perca, como já aconteceu com tantos outros.
Portanto, a fotografia, em sua essência, tem o mérito
de reviver, perpetuar momentos e de fixar a memória
em seu tempo, seja ele distante, instantâneo, ou mais
próximo. É essa busca, indistinta e anônima,
que também se revela na foto.
Montes Claros tinha seus fotógrafos, ou os chamados
retratistas. Fizeram a arte de eternizar pessoas, lugares,
movimentos, figuras, cujas objetivas nos transportam a flagrantes
distantes e nos fazem íntimos de paisagens perdidas,
de olhares focados e de poses ensaiadas, em papel cartonado.
Antônio de Souza Quirino, do famoso “Photo Quirino”,
o grande artista, um dos pioneiros desse ofício, conheceu
a magia de captar fatos, momentos, que, trazidos para o presente,
têm a possibilidade de reacender lembranças e
sentimentos guardados, detalhes esquecidos. Era filho de Vítor
Quirino, que fora Prefeito de Montes Claros nos idos de 1890,
e pai de Vítor Quirino Neto, que também sabia
fotografar. Exerceu esse oficio por muito tempo, desde os
primeiro anos do século XX até meados dos anos
40. Em seu estúdio, havia um cenário que serviu
de pano de fundo para inúmeras fotos das famílias
montesclarenses. Esse cenário trazia um bucolismo europeu,
galante, bem característico da verve romântica,
idealizada em seus padrões estéticos, diferentes
das nossas árvores retorcidas, do nosso cerrado. Ser
fotografado naquele contexto fazia bem àqueles que
o procuravam. Talvez fosse esse cenário a única
forma de quebrar a singeleza das velhas paredes, dos velhos
quintais, conhecidos e acostumados pela vivência e pelo
tempo. Das fotos no quintal, muitas vezes, fazia parte um
lençol, uma colcha, ou uma toalha, como um literal
pano de fundo, para fantasiar a visão do cotidiano.
Esse estúdio esteve ativo por muitos anos. Após
sua morte, Vitor Quirino Neto, o popular “Vitrim”,
exerceu o ofício da fotografia, aprendido com seu pai.
Especializou-se, sobretudo, em fotos de eventos políticos
pelos rincões desse município. Vitrim, também
mago de sua arte, era uma figura ímpar, com suas gigantes
e espessas sobrancelhas, que serviam de marquise para seus
olhos e suas calças com suspensórios, que mais
ainda se destacavam em sua baixa estatura. Figura inesquecível.
Era também professor primário em escolas rurais.
Outros fotógrafos passaram por Montes Claros e pela
região norte mineira. Muitos deles eram ambulantes:
vendiam e disseminavam sua arte pelo sertão mineiro,
prática que perdurou até os anos 60. Exerciam
seu trabalho, numa efêmera estada, por longínquos
lugares, tal qual seus flashes. Percorriam o sertão,
onde deixavam seus registros e de lá também
os traziam. Pouco se sabe sobre eles, mas suas obras persistem
e podem ser, ainda, admiradas. Destacam-se Francisco Árabe
e C. Guedes, que, por aqui passaram, no final do século
XIX e início do XX.
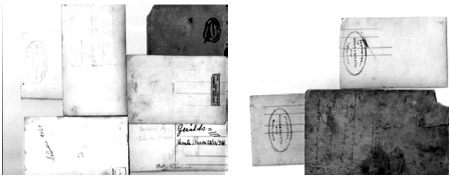
Verso
de fotografias com carimbos e assinaturas de próprio
punho dos fotógrafos – Montes Claros/MG, Década
de 40. Fonte: PAULA, Fabiano Lopes.
As
fotografias autorais tinham a certificação dos
fotógrafos em carimbos impressos, ou mesmo em assinaturas
de próprio punho, que geralmente vinham no verso da
foto, como no caso do Quirino, Foto Rex, C. Gomes. Unicamente
Facella colocava a sua assinatura em seus trabalhos na parte
frontal, geralmente no alto. Francisco Árabe tinha
um carimbo impresso para estampar sua assinatura na foto,
também, na parte frontal.

Antigo
prédio do Colégio Imaculada Conceição,
já demolido – Montes Claros/MG.
Foto: Facella. Fonte: VASCONCELOS, Marta Verônica Vasconcelos
Leite.
Essas
fotografias autorais chegaram aos anos 50 e, aos poucos, cederam
lugar aos fotógrafos amadores, com suas “Kodaks”,
com suas poses descontraídas, motivadas pelo cinema
e pela acessibilidade dos produtos americanos que chegavam
no pós-guerra. Atualmente, o fotógrafo profissional
está restrito a eventos. Hoje todo mundo pode tirar
fotos com aparelhos telefônicos e a fotografia segue
o modismo dos “selfies”(¹) .
Fotógrafos que atuaram em Montes Claros: Antônio
Quirino, Vítor Quirino, Cândido Gomes, Antônio
Quirino de Souza e “Pilgo”, Foto REX de C. Guedes,
Francisco Árabe e Facella. Na segunda metade do século
XX, os mais recentes: Foto Pinto, Rilson, Waldevi, Foto Baby,
Foto Alfi, Foto Gury, que se especializou em retratar crianças
nos grupos escolares e com personagens da Disney. Essas imagens
tornaram-se recorrentes e bastante populares na década
de 60. Depois
Tony foto foi quem passou a fazer o mesmo trabalho mas com
fotos envelhecidas e com cenário e indumentárias
de época. Como a criação dos cursos de
Design e de publicidade uma nova geração de
fotógrafos vem ocupando esse mercado com competência.
Atualmente, na cidade de Montes Claros, o emprego de acervos
fotográficos tem sido bastante utilizado pelos acadêmicos
das várias áreas do conhecimento, que deparam
com dificuldades na medida em que os acervos se encontram
espalhados e nem sempre organizados dentro das novas técnicas
arquivísticas.
O reconhecimento do valor documental da fotografia é
importante para áreas especificas, como arquitetura,
antropologia, etnologia, história social e demais ramos
do saber, pois representam um meio direto de conhecimento
de cenas passadas, possibilitando um resgate da memória
visual como fonte de pesquisa.
_________________________________________________________________
(¹) - Selfie - junção
do substantivo self (em inglês “eu”, “a
própria pessoa”) e o sufixo ie - ou selfy é
um tipo de fotografia de autorretrato, normalmente tomada
com uma câmera digital de mão ou celular com
câmera.
_________________________________________________________________
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Durante
séculos o homem utilizou-se da câmera fotográfica
para registrar momentos, paisagens, conflitos e manipular
cenas fotográficas, transformando seus objetivos em
imagens. A evolução da técnica, aliada
a informática tem levado a fotografia cada vez mais
distante daqueles primeiros e honestos registros, porém
a mágica de ver um instante eternizado é imutável
e continua a emocionar, documentar e a registrar a vida em
todo o mundo.
O Norte de Minas possui importantes coleções
fotográficas, quase todas em acervos particulares,
acreditamos que instituições públicas
e privadas poderão propor um trabalho conjunto no sentido
de reunir e dar visibilidade a todo esse acervo documental.
Cabe aos historiadores e pesquisadores a tarefa de definir
critérios para organização de bancos
de dados, que deem oportunidade de pesquisar, valorizar fotógrafos
ou autores e divulgar a própria história por
meio da comunicação e expressão no tempo
e no espaço.
Fabiano Lopes de Paula
Marta Verônica Vasconcelos Leite
FONTES
Arquivo DDI- UNIMONTES (Diretoria de Documentação
e Informação).
Arquivos dos autores:Fabiano Lopes de Paula e Marta Verônica
Vasconcelos Leite
REFERÊNCIAS
BORGES, Maria Eliza Linhares. História e fotografia.
Belo Horizonte: Autêntica,
2003.
EDITORA NOVA CULTURAL. Os Grandes Artistas:
Degas - Toulouse Lautrec –Monet.
Coleção Os Grandes Artistas – Romantismo
e Impressionismo. São Paulo: Nova
Cultural, 1991.
FLANDER de Souza.Verônica Alkimin,
(Org). O olhar de Chichico Alkimim. Belo
Horizonte: Ed. B., 2006.
GARÓFALO, Camila. Confira um acervo
com 300 fotos de Henri Cartier-Bresson. 2013. Disponível
em: <https://catracalivre.com.br/geral/dica-digital/indicacao/confira-um-acervo-com-300-fotos-de-henri-cartier-bresson/>.
Acesso em: 23/07/2014.
HEDGECOE, John. O Manual do fotógrafo.
Porto. Ed. Porto, 1997.
KOETZLE, Hans-Michael. Photo Icons – The story behind
the pictures 1827-1991. Taschen, 2005.
KOSSOY, Boris. Fotografia & História.
4ª Ed. São Paulo: Ateiê Editorial, 2012.
MOLECULAR EXPRESSIONS. Joseph Nicéphore Niepce. Disponível
em: <http://micro. magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/niepce.html>.
Acesso em: 23/07/2014.
MOLECULAR EXPRESSIONS. Louis-Jacques-Mandé
Daguerre Disponível em:
<http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/daguerre.html>.
Acesso em: 23/07/2014.
SOUZA, Flander de; FRANÇA, Verônica
Alkmin (Orgs). O Eterno Olhar de Chichico Alkimin. Belo Horizonte:
Editora B, 2005.
SOUZA, Guto. Beijos e Guarda-Chuvas. 2013.
In: Revista Clichê. Disponível em:
<http://www.revistacliche.com.br/2013/03/beijos-e-guarda-chuvas/>.
Acesso em: 23/07/2014.
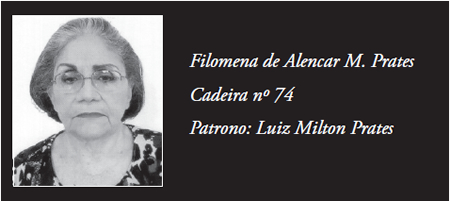
MEU
GURI
Olha
aí, olha aí, olha aí o meu Guri!
Nestas palavras o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda
nos fala de uma mãe favelada que se orgulha de um filho
menor de idade, que se levanta cedo e vai pra rua, dizendo
para a mãe que “vai trabalhar”. Ela na
sua santa ignorância acredita e sente-se feliz ao constatar
que o filho chega em casa trazendo, rádio gravador,
baterias, pneus, colares e correntes de ouro, que “haja
pescoço para pendurar”. Nem por sonho, essa mãe
desconfia que seu filho é um bandido ainda em formação.
Que os objetos trazidos por ele são produtos de furtos
e que aquele filho de quem tanto ela se orgulha é um
ladrão que a escola da bandidagem já o consagrou
PHD no mundo do tráfico, do crime e da corrupção
na sua curta infância.
Foi chocante o documentário que o Fantástico
exibiu no último domingo. Acredito que o Brasil inteiro
ficou estarrecido com as cenas e depoimentos mostrados. É
a dura do que se passa no nosso país. A falta de emprego,
escolas, alimentação, enfim de uma vida digna
para
esses
brasileirinhos que muitas vezes não chegam aos dezoito
anos de idade, mas que muitos desses têm um título
de eleitor para servir de escada para os políticos
sem escrúpulos.
Assisto religiosamente as sessões da TV Senado e posso
constatar que, apenas meia dúzia de gatos pingados
se preocupa com o menor abandonado.
Viajando para a Europa pude observar em Madrid a criança
que for encontrada no horário escolar, fora de aula,
é conduzida a um abrigo e seus pais são obrigados
a pagar, ou melhor, prestar serviços ao Estado.
E no Brasil, essas crianças tem pais? Muitos não
conhecem a mãe, e alguns deles apenas fala de uma tia
como coisa muito remota.
É o retrato vivo de um Brasil jogado para o escanteio,
onde o dinheiro “sujo” fala mais alto, onde as
autoridades pouco se preocupam com o futuro das nossas crianças.
A mãe do “Guri” de quem falei no início,
um dia encontra-o estendido no chão com a boca cheia
de formigas e os olhos arregalados para o céu como
se estivesse a pedir justiça para os que ficaram.
É isso aí!
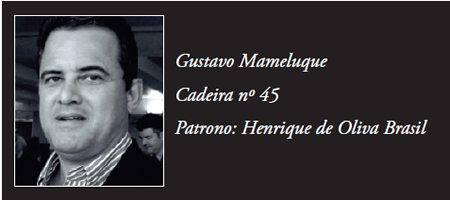
A
ESCRAVIDÃO REMEMORADA
Acabo
de ler o primeiro livro da trilogia: Escravidão, do
jornalista e historiador Laurentino Gomes. Autor dos best
sellers 1808, 1822 e 1889. “O Brasil tem seu corpo na
América e sua alma na África”, afirmava
no final do século XVII o padre jesuíta Antônio
Vieira”. Essa é uma frase profética que
se torna cada vez mais verdadeira. Maior território
escravocrata do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu
aproximadamente 5 milhões de escravos cativos africanos,
40% do total de 12,5 milhões embarcados como animais
de carga para a América ao longo de três séculos
e meio. Como resultado desta agressão histórica
ao povo africano, o nosso país tem hoje a maior população
negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria.
Foi também, entre os países do novo mundo, o
que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico lucrativo
de pessoas e o último a abolir o cativeiro, por meio
da Lei Áurea de 1888- quinze anos depois de Porto Rico
e dois depois de Cuba. Experiência mais determinante
na história brasileira, a escravidão teve um
impacto profundo na sociedade, na cultura e no sistema político-econômico
que deu origem ao país
após a independência. Nenhum assunto é
tão importante e tão definidor da nossa identidade
nacional. Ao estuda-lo Laurentino Gomes anos ajuda a explicar
o que fomos no passado, o que somos hoje e também o
que seremos daqui para a frente. Recordo que o antropólogo
montes-clarense afirma que somos uma Nova Roma, fruto da alma
do negro, do branco e do índio, que transformou o Povo
Brasileiro em uma miscigenação de força
e acolhimento.
“Escravidão” atingirá 1.500 páginas
(toda a trilogia). O segundo volume está agendado para
2021 e trata do auge do tráfico, motivado pela febre
do ouro em Minas Gerais com ênfase em Vila Rica e Diamantina.
O terceiro e último vai tratar do tráfico ilegal,
o movimento abolicionista brasileiro e o encerramento da escravatura.
“O Brasil tem de enfrentar o racismo a sério
se quiser se tornar um país decente”, diz. “Até
hoje, fechou os olhos para a escravidão para esconder
a culpa dos governantes e da Igreja”. Por isso, outro
mito que cai é o da benevolência da escravidão
no Brasil, o país que “acolheu” o maior
número de escravos de 1535 a 1867: mais de 5 milhões.
Daí deriva outro mito, divulgado pelos historiadores
de que houve confrontos entre escravos e senhores de engenho.
Segundo Laurentino “Houve mobilidade social por meio
de alforria e sexo inter-racial muito maior que nos Estados
Unidos”, afirma Gomes. Mais uma lenda diz respeito ao
heroísmo de Zumbi dos Palmares. “Há três
versões sobre Zumbi: o nacionalista, o líder
revolucionário e o filho gay de Ganga Zumba”.
Para batizar os africanos cativos “desalmados”
e lucrar com a sua” venda, os jesuítas mantinham
feitorias em Angola, de onde partiam o maior número
de escravos negreiros. Os cativos eram batizados por “José,
Francisco e João” apenas o primeiro nome, sem
sobrenome e sem memória. Nascia portanto um novo escravo
a sustentar a nova nação no novo mundo. Em carta
à Companhia de Jesus, em 1549, o padre Manuel da Nóbrega,
fundador de São Paulo, solicita o envio de mais escravas
ao colégio, “porque as fêmeas fazem a farinha,
e todos os principais serviços e trabalhos delas”.
Padre Antônio Vieira proferiu um sermão na Bahia,
em 1633, para catequizar os africanos cativos
sobre a beatitutde e necessidade dos trabalhos forçados
exercidos pelos escravos: “Oh, se a gente preta atirada
das brenhas da sua Etiópia, e passada ao Brasil, conhecera
bem quanto deve a Deus, e a sua Santíssima Mãe,
por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça,
e não é senão milagre, e grande milagre!”.
Não há notícia de que os escravos presentes
se convenceram. Afinal, naquele tempo, os novos fiéis
convertidos iam a missa acorrentados com manilhas de cobre
e correntes de ferro, como se participassem de um cortejo
rumo ao inferno. Por este motivo Santo João Paulo II
pediu publicamente “Perdão” pela postura
de parte da igreja durante a escravidão, a inquisição
e o silêncio durante o Nazismo na Segunda Grande Guerra.
A Igreja em boa hora fez a sua autocrítica.
Outro ponto marcante na obra de Laurentino foi o total desrespeito
ao princípio da dignidade da pessoa humana o qual os
escravos que aqui chegavam eram tratados: humilhações,
trabalhos pesados, punições exageradas. Apenas
a título de exemplo: “Um escravo foi chicoteado
com 200 chibatadas, ficando à carne viva, por ter furtado
um quilo de açúcar de seu Senhor”.
Reafirmamos que reler e tentar compreender a história
recente da formação da nossa Nação
é papel importante na formação da cidadania.
Neste ponto a obra do Jornalista Laurentino Gomes em muito
contribui.
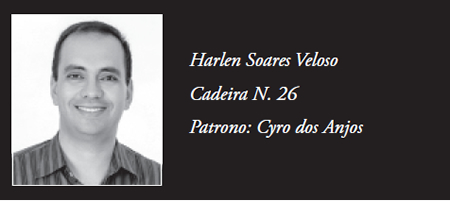
SOBRADO
DA FAZENDA LAMBARI
E A FAMÍLIA MAURÍCIO
Na
região de Juramento, chama a atenção
um belo sobrado à margem da estrada vicinal que leva
à região da Prata, rumo a Francisco Sá.
Ali viveu meu trisavô Euzébio Ferreira Godinho
(1848-1929), mas eu não tinha certeza se foi ele o
construtor.
A dúvida é sanada por Hermes de Paula, que registrou
em sua obra “Montes Claros, sua História, sua
Gente, seus Costumes” a origem da bela construção.
Segundo o historiador, o Sr. João Alves Maurício,
patriarca da família Maurício nesta região,
vindo de Paracatu, “acomodou-se inicialmente no Lambari
(Juramento); ali construiu a residência, um sobrado
ainda hoje em bom estado, talvez o primeiro sobrado como sede
de fazenda no município. Em 1860 passou a residir na
cidade, dedicando-se ao comércio (...)” (pág.
110).
Outro ícone da história local, Nelson Viana
registra em suas Efemérides Montes-clarenses a nota
do óbito do Sr. João Alves Maurício:
“29 de agosto de 1864 - Falece o cel. João Alves
Maurício.

Nasceu em Paracatu de Seis Dedos, onde foi fazendeiro transferindo-se
para Lambari, no município de Montes Claros de Formigas
onde se afazendou. Mudando-se para a sede do município
dedicou-se ao comércio, tendo construído o sobrado
nº 9 da praça Dr. Chaves, nesta cidade, em 1853.
Foi vereador à Câmara Municipal de Montes Claros,
de 1853 a 1861, e vice-Presidente da mesma Câmara, empossado
a 18 de janeiro de 1861. Casou-se, em primeiras núpcias,
com dona Carlota Maria Cardoso de Sousa, e, em segundas com
dona Firmiana Versiani”, com quem teve dois filhos:
João Alves Maurício Versiani e
Altina Firmiana Augusta Versiani.
Apurei em fontes primárias que a data correta do óbito
é 9 de agosto de 1864 e a idade na ocasião era
de 48 anos (portanto, nasceu em 1816).
Atualmente, a propriedade é de descendentes de Euzébio
Godinho.
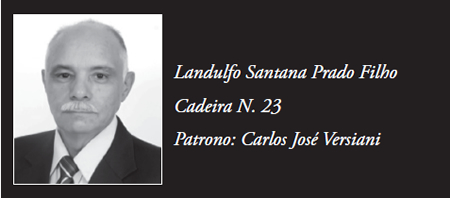
O
QUE É O SOM?
O
som veio silencioso sob a forma de uma carícia e finalmente
uma história. Passo a comentar sumariamente no formato
contextualizado no caso que venho de reproduzir a expressão
som, sensível no sentimento delicado da vida é
uma bela canção.
Este artigo se volta para as relações da música
com o corpo e com o espaço, sugere-se aqui em linhas
gerais para um projeto de observação da história
e contempla alguns momentos no desenrolar da produção
musical.
Som:
palavra que vem do latim sonus, é a propagação
de uma frente de compressão mecânica ou uma onda
mecânica e significa literalmente a vibração
de um corpo percebida pelos ouvidos, ou energia sob a forma
de vibrações chamadas ondas sonoras. É
a matéria prima da música. Para várias
religiões, ou filosofias, o som é a fonte de
toda a criação. Para cristãos “a
palavra” é o começo: – “Disse”
Deus: Haja luz, e houve luz.
Quando
ele fala um potente estado de canto explode dos corações
angélicos e esparge sua ressonância pôr
todas as graduadas ordens de seus grupos, os anjos a música
nada mais é do que incorporações do verbo
criativo de Deus, expressões de sua voz. Se quiserdes
apelar para os deuses da música, tendes que vos elevar
até o nível do Eu, em que a energia e o poder
criativos se encontram entesourados.
Para os Hindus o Om é considerado o corpo sonoro do
Absoluto, Shabda Brahman é o som do Universo, a semente
que fecunda todos os outros mantras. Para os Egípcios,
assim como várias tribos aborígenes “músicas
sagradas” também representam o começo.
Em diversas culturas o “Som” seria a principal
fonte de tudo que existe dentro do que chamamos de “Criação”.
Os chineses também possuíam uma crença
de algo imensamente fundamental na música. Um trecho
de uma música era considerado uma fórmula de
energia.
A música encerraria, em seus tons, elementos de ordem
celestial, assim como a matemática da música
englobaria proporções e princípios sagrados,
sendo a “vibração cósmica”
a base de toda matéria e energia.
Sons naturais são, na sua maior parte, combinações
de sinais, ou frequências, sendo um som puro representando
por uma senoide pura, a forma mais simples de uma onda. Possuem
uma velocidade de oscilação, ou frequência,
que se mede em Hertz, ou ciclos por segundo, e uma amplitude,
ou energia, que se mede em decibéis.
Sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência
que varia entre 20Hz e 20.000Hz. Abaixo de 20Hz temos os infrassons
e acima de 20.0000Hz os ultrassons.
Mas como é feito o som?
Quando vibramos uma corda de aço esticada, por exemplo,
produzem-se oscilações no ar que, por sua vez,
entram na parte externa
dos nossos ouvidos conduzindo as ondas sonoras em direção
ao tímpano que vibra.
Essas vibrações que são captadas pelos
nossos tímpanos, passam por uma espécie de caracol
-chamado clóquea- que há dentro dos nossos ouvidos
e são enviadas, através do nervo auditivo, para
o nosso cérebro.
O cérebro interpreta esses sons e assim se forma a
música dentro da nossa cabeça.
As ondas sonoras ou oscilações podem ser registradas
por um instrumento chamado osciloscópio.
É a velocidade da onda sonora quem determina a altura
ou afinação do som, e é a amplitude quem
determina o volume do som.
O Concorde, único avião supersônico comercial
do mundo, é um exemplo da força do som: se ficarmos
perto de um avião desses, o ruído de suas turbinas
pode facilmente romper nossos tímpanos. O som que o
Concorde produz é classificado como ruído ou
barulho, palavras que estão sempre separadas da ideia
de som musical e ligadas à ideia ou noção
de desordem.
O Grego Pitágoras (570-495 a.C.) ficou conhecido não
somente pelo Teorema que leva seu nome, mas também
pela introdução do conceito de “Música
Universalis” e a “Harmonia das Esferas”.
Para Pitágoras a natureza seria sempre harmoniosa:
plantas movem-se seguindo equações matemáticas,
que correspondem a notas musicais, produzindo uma espécie
de sinfonia.
Como consequência surgiu o conceito de “Música
Humana”, segundo os quais operariam com acordes, produzidos
pelos nossos sistemas e subsistemas orgânicos. O que
entendemos como doenças seria o equivalente a uma orquestra
desafinada.
O
filosofo chinês Confúcio (551-479 a.C.) dizia
que “se desejamos conhecer se um reino é bem
governado, se sua moral é boa ou ruim, a qualidade
de sua música irá fornecer a resposta”.
Nos dias de hoje, porém, podemos afirmar que quase
todo som pode ser transformado em música. Muitos são
os músicos que através de algumas experiências
tentam colocar sons de coisas como serras elétricas
dentro de estruturas musicais.
A música, segundo várias culturas, teria o poder
de harmonizar o organismo. Ondas atravessando um meio físico,
e nós somos um meio físico, produzem efeito
direto sobre as nossas estruturas orgânicas.
Sendo assim o som, ou a música, podem afetar não
somente nosso corpo, como também nossos pensamentos
e nossa mente. A linguagem também é fruto do
som. Nossa fala ou nossa capacidade de se comunicar através
da voz é o resultado de sons produzidos pelas cordas
vocais, as quais servem de veículo sonoro a uma ideia
na formação das palavras. Esses sons emitidos
através da vibração das cordas vocais
recebem o nome de fonemas. Assim, todo fonema é som,
mas nem todo som é fonema.
Todo som sempre traz junto de si a ideia de harmonia. Como
já disse o filósofo Cícero: “unus
sonus est totius orations” (todo o discurso tem um tom
uniforme).
A região dos Campos das Vertentes é um celeiro
de sons. As cidades de São João Del Rey e Prados
compartilham o apelido de “Cidade da Música”.
Tiradentes também traz em sua gênese a musicalidade
que vem das igrejas e das construções barrocas.
As influências dessa cultura na formação
de seus habitantes e seus desdobramentos históricos
estão documentadas em “Uma História de
Amor à Música (BEI Editora), com texto dos Jornalistas
Marília Scalzo e Celso Nucci”.
Pré-História
- A palavra música, do grego mousikê, que quer
dizer “arte das musas”, é uma referência
à mitologia grega e sua origem não é
clara. Muitos acreditam que a música já existia
na pré-história e se apresentava com um caráter
religioso, ritualístico em agradecimento aos deuses
ou como forma de pedidos pela proteção, boa
caça, entre outros.
Antiguidade - Muitos historiadores apontam à música
na antiguidade impregnada de sentido ritualístico e
como instrumento mais utilizado a voz, pois por meio dela
se dava a comunicação e nessa época o
sentido da música era esse, comunicar-se com os deuses
e com o povo.
Idade Média - Na Idade das Trevas ou Idade Média
a Igreja tinha forte influência sobre os costumes e
culturas dos povos em toda a Europa. Muitas restrições
eram impostas e, por essa razão, observamos o predomínio
do canto gregoriano ou cantochão, porém houve
um grande desenvolvimento da música mesmo com o direcionamento
da igreja nas produções culturais e nessa fase
a música popular também merece destaque com
o surgimento dos trovadores e menestréis.
Renascimento - Nesse período, na Europa, cresce o interesse
pela música profana (que não era religiosa).
A música também é trabalhada em várias
melodias, porém ainda as melhores composições
musicais dessa época foram feitas para as igrejas.
Barroco - A música barroca foi assim designada para
delimitar o período da história da música
que vai do aparecimento da ópera e do oratório
até a morte do compositor, maestro e instrumentista
Johann Sebastian Bach.
Classicismo - Nesse período, a música instrumental
passa a ter maior destaque, adquirindo “porte”,
elegância e sofisticação. São sons
suaves e equilibrados. Nesse período criou-se, ainda,
a sonata, e os espetáculos de ópera passam a
ter um brilho maior, bem como as orquestras se desenham e
passam a ter grande relevância.
Romantismo
- Diferente da música no classicismo, que buscava o
equilíbrio, no romantismo a música buscava uma
liberdade maior da estrutura clássica e uma expressão
mais densa e viva, carregada de emoções e sentimentos.
Os músicos, nessa fase, se libertam e visam, por meio
da música, exprimir toda sua alma.
Música no século XX - Podemos dizer que, esse
período, para a música, foi uma verdadeira REVOLUÇÃO.
O entusiasmo foi grande, inovações, criações,
novidades, tendências, gêneros musicais apareceram.
Foi um período rico para a música, impulsionado
pela rádio, e pelo surgimento de tecnologias para gravar,
reproduzir e distribuir essa arte.
No início do século XX, o interesse por novos
sons fez os compositores incorporarem uma grande quantidade
de instrumentos e objetos sonoros à música.
O Compositor norte americano como Leroy Andersen, que compôs
uma obra para máquina de escrever e orquestra, o compositor
brasileiro Hermeto Pascoal que criou músicas com sons
produzidos por garrafas, ferramentas, conversas e grunhidos
de porcos e o compositor italiano Ottorino Respighi, que escreveu
uma obra para orquestra e rouxinol intitulada “Pinheiros
de Roma”.
Todos os sons podem ser aproveitados em música, pois
oferecem muitas possibilidades de enriquecer uma composição.
Para realizar essa narrativa, é preciso, outrossim,
atentar para os ruídos que cercam a produção
oficial de música. Urge perceber os cantares divergentes,
dar voz à sua existência marginal, determinar
seus elos com a política dos discursos e descobrir
até que ponto seus timbres estranhos surgem como resposta
às abstenções determinadas pela Igreja.
Faz-se necessário indagar os cantores do mundano, das
ruas, dos espaços sem regras (ou com outras diferentes
daquelas infundidas pela Igreja, regras baseadas nos desejos,
nos apetites, na gravitação da pele junto a
outra) – os troveiros e trovadores do norte e sul da
Provença; os minnesinger da Alemanha; os goliardos,
clérigos errantes que faziam das tavernas sua pátria,
das estradas seu itinerário; os jograis e menestréis,
cantadores das gestas seculares, das histórias populares;
interessam escrever a paixão (e o prazer) com que cada
um deles cantava, à sua maneira, o amor, a lascívia,
os sentidos. Não raro, estes músicos do grotesco
ajudaram a construir os rumos do fazer musical ocidental.
Suas passagens pelo bizarro da experiência humana, as
práticas pervertidas, as falas obscenas, os gostos
desvirtuados pela desmesura, pela embriaguez, trouxeram ao
mundo da música, da arte, o imensurável, os
espaços proibidos, as imagens da sordície, os
sons da algazarra, a face de Dionísio, Deus dos ciclos
vitais, das festas, do vinho, da insânia, do teatro
e dos ritos religiosos, e coloriram a vivência musical
para além das notas dadas pela Igreja, inspiradas em
Apolo, a mais célebre representação de
Deus.
Desse modo toda agitação produz ondas, uma frase
que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras.
As ondas ou oscilações eletromagnéticas
são sempre da mesma substância, diferenciando-se,
porém, na pauta do seu comprimento ou distância
que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista
da onda seguinte, em vibrações mais ou menos
rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica
a frequência diversa. Neste contexto, iniciaria por
uma canção, uma mistura de letra e melodia percorrendo
uma linha reta entre quem cante e que escuta; um ajunta de
mensagem e som, quando aquele que enuncia é também
afetado; uma música onde pudessem escorregar livremente
os conceitos, os saberes, o sensível. De falar do não
escrito, das pequenas ressonâncias, dos ruídos
interditos, dos silêncios que revelam; dos espaços
instaurados pelo ressoar de uma nota, um sussurro. Uma amostra
sem letra, sem o traço, o desenho de um mapa, territórios
de pertença e de recusa, feitos de ar (como as fazendas
de Drummond)1, mas também de outras coisas, como o
sopro do cantor. Fontes das altas e sãs inspirações
das lições
tradicionais da música, que nos levam em direção
às serenas alturas da arte, chegam um momento, na história
do pensamento, onde a palavra e o gesto não são
mais suficientes para traduzir as emoções da
alma. É então que o senso musical desperta e
entra em jogo na própria literatura, que deve ser como
um reflexo da harmonia superior.
A música na história dos seres e dos mundos,
um imenso círculo, que permite todos os sonhos, todos
os voos da imaginação; abre novos caminhos,
em tudo o que faz o poder, a grandeza, a beleza do universo.
Na medida em que horizontes se ampliam e que a humanidade
se comunica com a vida universal, formas mais perfeita de
expressão e de sensação tornam-se necessários
para responderem ao estado vibratório, às crescentes
radiações da alma.
A antiguidade, criadora do gênero, havia compreender
isso. O poeta antigo era, ao mesmo tempo, cantor e compositor.
Porém, atualmente, a poesia não é mais
do que uma das formas da literatura.
A música, nós sabemos, representa grande papel
na inspiração profética e religiosa;
considerada como meio de transmissão de pensamento
artístico, traduz em vibrações harmônicas,
sons de infinita delicadeza; vibrações melodiosas,
harmonia musical com seus maravilhosos efeitos. O canto e
a música em sua íntima união podem produzir
a mais alta impressão. Quando ela é sustentada
por nobres palavras a harmonia musical pode elevar as almas
às regiões celestes. É o que se realiza
com a música religiosa, com o canto sacro.
Resultado que os termos pobres de nossa língua humana
são impróprias para traduzir todas as belezas
da obra divina. (linguagem comum às regras e as leis
da grande sinfonia eterna).
__________________________________________________________________
1 – Referência ao poema de
Carlos Drummond de Andrade intitulado Fazendeiro do ar.
__________________________________________________________________
Sirvo-me
dos mais simples termos e imagens para a compreensão
dos fenômenos do espaço e a sensibilidade musical,
resultando sensações maravilhosas de sonoridades,
percebidas por todo o ser.
A harmonia da música, imaginamos a impressão
experimentada pelo ser espontâneo; não se trata
mais de sensação de bem estar, de contentamento,
mas de uma espécie de acalento, de ondulações
acompanhadas de uma sensação especial porque
determina um estado emotivo, uma espécie de êxtase.
As vibrações sentidas nesse estado formam o
que nós chamamos de tonalidades; eles são produzidos
por atritos de camadas espontâneas entre si.
O canto e a música em sua íntima união
podem produzir a mais alta impressão. O cântico
produz uma dilatação salutar da alma divina,
uma emissão fluídica que facilita a ação
das forças invisíveis. Não há
cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa
sem o cântico. Quando a voz pura das crianças
e dos jovens ressoa pela abóboda dos templos, desprende-se
com que uma sensação de suavidade angélica.
Porém, unida a palavras malsãs, a música
é mais do que um instrumento de perversão, um
veículo de torpeza que precipita a alma divina nas
baixas sensualidades, e aí encontra uma das causas
da corrupção dos costumes na época atual.
O fenômeno sonoro desenvolve-se de círculo em
círculo, de esfera em esfera, e amplia-se até
o infinito. Ele leva a alma, o espírito, em suas grandes
ondas, sempre mais longe, sempre mais alto, no mundo do ideal,
e nela desperta sensações tão delicado
quanto profundo, que a preparam para os júbilos e os
êxtases da vida superior.
O poder misterioso e soberano estende-se sobre todos os seres,
sobre toda a natureza. Com efeito, a lei das vibrações
harmônicas rege toda a vida universal, todas as formas
da arte, todas as criações do pensamento. Ela
introduz equilíbrio e ritmo em todas as coisas. Ela
influi até sobre a saúde física por sua
ação sobre os fluidos humanos. Sabe-se que Saul,
em suas crises nervosas, chamava Davi, que através
dos sons de sua harpa acalmava a irritação do
monarca. Em todos os tempos, e ainda nos dias atuais, a arte
musical foi aplicada à terapêutica, e com resultado.
Poder-se-iam multiplicar os exemplos.
A harpa, através de seus sons eólios, dissipa
nossos pesares, acalma nossas dores e embala-nos deliciosamente
o espírito, o meio mais seguro de elevar o pensamento
às alturas sublimes, onde reside o talento inspirados
elemento indispensável à vida intelectual. No
livro Espiritismo na Arte dita O código de Hoël
diz, com efeito: “Há três coisas inalienáveis
em um homem livre: o livro, a harpa e a espada”.
A voz humana possui também, quando é verdadeiramente
bela, entonações de uma flexibilidade e de uma
variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Ainda
melhor que isto, ela pode expressar todos os estados de espírito,
todas as sensações da alegria e da dor, desde
a invocação de amor até as entonações
mais trágicas do desespero. É por isso que a
introdução dos coros nas músicas orquestradas
e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto
e de beleza.
A percepção do som, como se formam as vibrações.
Na parte imaterial do ser humano, transportado na esfera vibratória,
encontra-se envolvido por uma rede de ondas sonoras do qual
os elementos são constituídos por seres responsáveis
pela nossa existência. O que ele experimenta? Experimenta
uma impressão comparável à que vocês
sentem quando ouvem em música uma nota tônica.
Quanto mais as ondas do campo vibratório se desenvolvem
em velocidade e comprimento, mais a impressão experimentada
pelo espírito é viva, penetrante e comparável
em termos humanos, à que os sons agudos nos fornecem.
Portanto temos, de um lado, a nota tônica, e de outro,
o som agudo. Se no campo vibratório as ondas variam
em velocidade e em intensidade, a amplitude do som varia,
e esse som parte de um ponto inicial, comparável à
nota tônica. Esse ponto inicial compreende uma certa
onda vibratória que não pode medir. Eis uma
comparação: os fonógrafos, aparelhos
de gravação e reprodução de sons
emitem sons onde, além da sonoridade produzida pelo
instrumento, se aproximarmos o ouvido do pavilhão,
experimentamos um calor mais ou menos intenso de acordo com
a elevação do tom. Ora, a alma divina não
sente calor, mas sensações mais ou menos deliciosas,
segundo a velocidade, maior ou menor, e segundo a onda, de
maior ou menor comprimento. As radiações que
tocam a alma são coloridas de tons incrivelmente variados.
Cada cor possui uma propriedade particular, que confere uma
sensação de bem estar, de satisfação,
que difere de acordo com a pureza, a homogeneidade de cada
tom. É preciso, portanto, levar em consideração,
de um lado, a qualidade das ondas, isto é, sua coloração,
e de outro lado, sua velocidade, seu comprimento, as diversas
fases de seus meandros. Tudo isso provoca, na alma divina,
incomparáveis e excessivamente variados fenômenos,
pois, quanto mais evoluído é o espírito,
mais as ondas que ele percebe são diversas, assim como
as cores, que exprimem os sentimentos. A gama de sons, tal
como a concebemos, não é senão uma relação
de sensibilidade que não possui nada de absoluto. Concebe-se
muito bem que existe uma relação entre as ondas
sonoras e as ondas luminosas, porém tal relação
escapa a muitos observadores e sensitivos porque as percepções
são bastante diversas em seus graus de intensidade,
sendo as vibrações luminosas incomparavelmente
mais rápidas do que as vibrações sonoras.
Temos exemplos na diferença que se estabelece entre
as notas mais
baixas, que correspondem às cores mais escuras, e aos
sons agudos, que respondem às intensidades luminosas
mais vivas. Todos nós possuímos o mesmo órgão
auditivo, e, no entanto diferença de sensações
experimentam os ouvintes de uma sinfonia, de acordo com seu
grau de cultura e sua elevação psíquica!
As
notas musicais, a sonoridade, som resultante de uma vibração
que impressiona nossos órgãos físicos
e produz, em consequência, um fenômeno virtual,
sensação que acarreta uma satisfação
de bem estar moral e espiritual. O músico, compositor
sendo transportado à esfera musical, isto é,
ao campo vibratório animado pelo encantamento do belo,
recebe vibrações que, chocando-se com seus próprios
eflúvios, produzem sensações de júbilo
em sua alma. Assim disse um dos compositores, músicos:
A melodia é para a luz o que a harmonia é para
as cores do prisma, isto é, uma mesma coisa sob dois
aspectos
diferentes: melódico e harmônico.
Platão2 nos diz: A música é uma lei moral.
Dá alma ao universo, asas ao pensamento, saída
à imaginação, encanto à tristeza,
alegria e vida a todas as coisas. A lei das notações
musicais regula todas as coisas, e seu ritmo acalenta a vida
universal.
O compositor musical chega a executar sua melodia pessoal
sobre as mil oitavas do imenso teclado do universo; ela é
invadida pela harmonia sublime que sintetiza a ação
de viver e a interpreta de acordo com seu próprio talento,
prova cada vez mais as felicidades que a posse do belo e do
verdadeiro proporciona, felicidades que os verdadeiros artistas
podem entrever deste mundo. O que se chega a uma concepção
elevada da lei das notações musicais, e de suas
aplicações, deve auxiliar todos aqueles que,
abaixo dele, transpõem a grandiosa escala das ascensões.
E todas as ascensões da vida à perfeição
eterna, todo esplendor das leis universais, resumem-se em
três palavras: beleza, sabedoria e amor!
Entre os séculos XIX e XX, avanço tecnológico,
naquele tempo aconteceu à invenção da
transmissão do som, pelo cientista brasileiro,
_________________________________________________
_____________
2 – Platão; célebre
filósofo grego (Atenas, 428 ou 429 - id., 348 ou 347
a.C.)
______________________________________________________________
gaúcho
Padre Roberto Landell de Moura, 21/01/1861 a 30/06/1928, também
abordado pelo viés da ciência, demonstrou paralelamente
interesse pelo espiritismo, psicologia e homeopatia. Um dos
pioneiros em nível mundial, a conseguir a transmissão
do som e sinais telegráficos (transmissão de
sinais) sem fio por meio de ondas eletromagnéticas,
o que daria a origem ao telefone e ao rádio, ondas
de rádio e luz. Relacionamos aqui o fenômeno
físico, ocorrência observável relativa
à matéria à energia sonora ou ao espaço-tempo
(som – ondas acústicas). Movimento vibratório
tão extenso quanto à distância que nos
separa desse outros mundos que rolam nossa cabeça,
ou sob nossos pés, chega
então a voz e faz ouvir o som articulado ou instrumental.
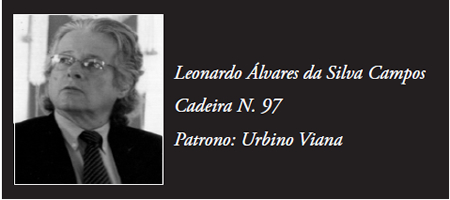
A
VERDADEIRA ORIGEM DO HOMEM
(ADEUS, LUCY!)

O primeiro crânio é de um Australopithecus afarensis,
sendo os dois ao seu lado do Homo habilis. O do centro é
o famoso 1470.
“No
entanto, a ciência tem um caráter de autocorreção.
Nenhuma
grande falácia pode persistir por muito tempo diante
do aumento progressivo
de conhecimentos.” (Francis S. Collins).
Um esqueleto de hominídeo quase completo foi descoberto
pelo paleoantropólogo norte-americano Donald Johanson
em Hadar, na região de Danakil, Norte da Etiópia,
em 1974. Lucy, o nome que recebeu, acabou classificada como
um Australopithecus, que viveu há 3,18 milhões
de anos, de uma espécie inteiramente nova, apelidada
afarensis, com baixa estatura e aspecto mais simiesco do que
humano: testa baixa, nariz achatado e grandes mandíbulas.
Duas espécies de australopitecos surgiram concomitantemente
com o homem: os Australopithecus robustus (a forma sul-africana
do Australopithecus boisei) e os Australopithecus africanus,
que viveram entre 3,7 milhões de anos e 1,5 milhão
de anos. Os primeiros, maiores e mais atarracados, e os segundos,
tipos mais esguios, contemporâneos do Homo habilis e
também do Homo erectus, acabaram extintos diante de
sua incapacidade de enfrentar o meio adverso.
Para o paleoantropólogo inglês naturalizado queniano,
Richard E. Leakey, “Lucy, com 3 milhões de anos
de idade, é tida agora como um precursor do Australopithecus
africanus, e, em 1979, Johanson denominou esse fóssil
de A. afarensis” (“O Homem na Pré-História
do Norte de Minas”, deste mesmo autor, Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais, 1983, págs. 15/16 e 18).
O Australopithecus africanus descenderia do Australopithecus
afarensis pelas significativas semelhanças entre ambos.
Há quem assegure que ambos não passariam de
um mesmo ser.
Em um sítio arqueológico da África do
Sul, denominado Sterkfontein, foi encontrado o Australopithecus
africanus (R. Leakey e Roger Lewin, em “Origens”,
pág. 11). É considerável a distância
separando Lucy desse A. africanus, entre a Etiópia
e a África do Sul. Mas o tipo africanus surgiu especialmente
na região considerada berço da humanidade, como
um exemplar que apareceu perto do Lago Turkana, e ocupou quase
o mesmo nicho ecológico dos babuínos modernos
(Leakey e Lewin, idem, págs. 110 e 116, respectivamente).
Estudiosos e mais estudiosos vêm se debruçando
sobre Lucy, o qual, se teria hábitos bípedes,
ou mesmo, e mais provavelmente, semibípedes, também
demonstrou viver confortavelmente balançando por entre
as árvores. Em outras palavras, sem suas mãos
inteiramente livres, a espiral evolutiva responsável
por cérebros maiores dotados de inteligência
humana não deslanchou, parecendo não mais que
os afarensis deram origem tão somente aos atuais chimpanzés
e bonobos, também chamados de chimpanzés pigmeus.
Parece-nos hoje ser quase
incompreensível existirem pessoas que ainda acreditam
no Criacionismo bíblico, em detrimento das provas reais
da evolução, achando a ideia da ascendência
ou parentesco com símios do homem como um acinte ao
seu brio ou sua nobreza.
Apesar de opinar por uma postura bípede do A. afarensis,
mas não crendo ter sido a espécie antepassada
ou ascendente do homem, pela contemporaneidade entre ambos,
Richard E. Leakey, em seu livro “O Povo do Lago”,
Editora UnB/Melhoramentos, 1988, pág. 67 (obra que
tem como coautor Roger Lewin, a quem parece pertencer somente
o texto, conclusão que vale também para outro
livro bem mais famoso de Leakey, “Origens”), revela
que, como os grandes macacos de hoje, Lucy possuía
braços compridos em relação às
pernas, indicativo de subir em árvores, além
de outros detalhes que, bem sopesados, não tornam críveis
para nós as presenças desses afarensis na linhagem
do homem:
“O importante é que, nesse indivíduo,
os braços eram longos de forma incomum em relação
às pernas, um detalhe que indicava que, por mais que
fizesse, o hominídeo antigo provavelmente subia em
árvores.
Igualmente
importante era a natureza do hominídeo. Ele era, sem
dúvida, “avançado”, pois já
andava ereto. Todavia, o maxilar tinha algumas características
indubitavelmente primitivas, que fazem lembrar o Ramapithecus.
O maxilar tem nitidamente o formato em V; os molares, relativamente
grandes, são achatados; e o primeiro pré-molar
tem uma cúspide única, uma característica
muito primitiva, semelhante à do antropoide.
O formato da pelve sugere que era uma fêmea, e as proporções
gerais apresentam-se, de fato, como muito pequena, não
ultrapassando 91 cm de altura, conforme nos demonstram seus
dentes.”
A propósito do Ramapithecus, o mesmo está presentemente
totalmente afastado da linha evolutiva do homem ao ser reconstituído
um seu crânio completo descoberto na China. Assim feito,
constatouse que o mesmo não passava de um ancestral
dos orangotangos. Outros restos de Ramapithecus surgiram no
Quênia e no Paquistão, mas de um ramo diferente.
Estudos outros concluíram que dois outros seres que
seriam descendentes desse Ramapithecus, o Oreopithecus e o
Gigantopithecus, tidos como gêneros de australopitecos,
são na verdade fósseis de símios, agora
extintos. Um crânio de oito milhões de anos achado
no Paquistão, que recebeu o nome de Sivapithecus, combina
alguns traços com o Ramapithecus e outros, com o orangotango,
como órbitas oculares muito juntas. E um único
molar descoberto em Lukeino, em Tugen Hilss, de 6,5 milhões
de anos, foi associado como representante do último
antecessor comum do homem e do chimpanzé.
Os primeiros símios reconhecidos como tal apareceram
nos registros fósseis há 30 milhões de
anos, mas pelo menos há seis milhões de anos
houve a sua separação dos nossos antecessores.
Ou seja, é ainda por demais incerta a história
daqueles símios e de sua separação da
também difusa família Hominidae.
Continua
(“O Povo do Lago”, pág. 78):
“Infelizmente, não há número
suficiente de joelhos bem preservados no arquivo fóssil
para permitir que cada tipo de hominídeo seja testado
separadamente. Em contrapartida, podemos examinar a parte
superior do osso da coxa e da pelve. Não há
dúvida, no momento, de que esses ossos, nos australopitecíneos,
são diferentes daqueles do Homo e dos humanos modernos:
nos australopitecíneos a pelve é mais estreita
e mais comprida, a cabeça do fêmur é menor,
e o colo do fêmur, que liga a cabeça à
diáfise do osso da coxa, é estranhamente achatado.
Antigamente, muitas pessoas interpretavam essas diferenças
como indicativas de um modo de andar recurvado nos australopitecíneos
sem nenhuma justificativa, apenas porque esse ossos são
diferentes dos do Homo, segundo mais uma colocação
chauvinista do Homo.”
A evolução dos dentes dos hominídeos,
com atenção para a redução dos
caninos e o aumento da espessura do esmalte, vem sendo objeto
de interpretações. A conclusão correta
é que o fenômeno está relacionado com
a dieta. O nosso esmalte nos dentes é bem mais grosso
que nos primatas africanos, cuja dentição apresenta
vãos, e estes não são registrados entre
humanos. A redução nos caninos do homem fez
com que esses pequenos espaços desaparecessem entre
seus dentes. Os caninos nos símios têm esses
vãos. Os maxilares do Australopithecus afarensis mostram
irrefutavelmente este espacejamento entre os caninos e os
dentes adjacentes. No homem, os caninos são menores
quando comparados aos dos macacos, sugerindo uma menor competição
e maior cooperação para a vida social em nossa
espécie.
O maxilar superior do Australopithecus afarensis mostra claramente
o vão entre os dentes caninos e os adjacentes, o que
é peculiar aos símios, e não ao homem.
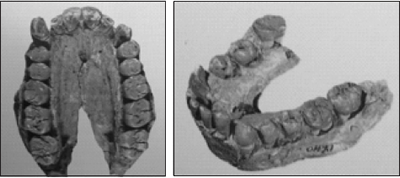
Arcada
dentária inferior de um Homo habilis mostrando uma
dentição basicamente humana, notadamente diferente
da dos australopitecos.
Os
humanos, após a primeira dentição (dentição
de leite), mostram uma segunda e definitiva composta de 28
a 32 dentes. Os dianteiros, incisivos, se prestam ao corte
de alimentos, os caninos são perfurantes e os pré-molares
e os molares são empregados para triturar e moer alimentos.
Acontece que preteritamente os hábitos alimentares
de mastigação não seriam uma exclusividade
humana. “É possível que os antepassados
dos hominídeos se tivessem especializado em comer sementes
e frutos duros, que eram difíceis de abrir e requeriam
mais mastigação. Estes traços aparecem
cedo demais para relacioná-los com a fabricação
de utensílios e com a elaboração dos
alimentos. Também evoluíram nos mandris Theropithecus,
que comem sementes duras”, segundo John Gowlett, no
livro “Arqueologia das Primeiras Culturas (A Alvorada
da Humanidade)”, Ediciones Folio S.A., Barcelona, 2007,
págs. 16/17.
Seus fortes caninos e adjacentes e o vão presente entre
tal dentição revela que o Australopithecus afarensis
era portador de bons músculos maxilares para facilitar
sua mastigação, o que é típico
de símios, não sendo inerente ao homem. Para
Francis S. Collins, diretor do Projeto Genoma (“A Linguagem
de Deus”, 4ª. edição, Editora Gente,
págs. 144/145), mesmo frisando tratar-se de uma hipótese,
escreveu que a presença desse maxilar mais fraco no
homem facilitou, paradoxalmente, seu crescimento craniano
para cima na acomodação de um cérebro
maior:
“Agora podemos também começar a explicar
as origens de uma fração ínfima de diferenças
mais mecânicas entre nós e nossos parentes mais
próximos, algumas das quais podem desempenhar funções
de destaque em nossa natureza humana. Por exemplo, um gene
para a proteína dos músculos maxilares (MYH16)
parece ter sofrido uma mutação para um pseudogene
nos humanos, mas continua desempenhando um papel importante
no desenvolvimento e na força dos músculos maxilares
em outros primatas. Percebe-se que a desativação
desse gene leva a uma redução na massa desses
músculos nos humanos. A maior parte dos macacos tem
mandíbulas relativamente maiores e mais fortes que
as nossas. Crânios de humanos e de macacos devem, entre
outras coisas, servir de sustentação a esses
músculos maxilares. É possível que o
desenvolvimento de um maxilar mais fraco permita, paradoxalmente,
que nosso crânio cresça para cima, para acomodar
nosso cérebro maior. Trata-se de uma especulação,
é claro, e outras alterações genéticas
seriam necessárias para responsabilizar o córtex
cerebral muito maior que representa um componente essencial
na diferença entre homens e chimpanzés.”
De mais a mais, refrisando, há quem considere que o
Australopithecus afarensis de Hadar nada mais seria do que
uma variedade do Australopithecus africanus. Mas existe um
detalhe muito importante e inquestionável na anatomia
de Lucy: sua pélvis não evoluiu a lhe permitir
dar à luz uma criatura com a cabeça grande.
Dali nunca sairia um feto Homo, por absoluta falta de espaço
para vir ao mundo.
Giro outro, existem cientistas que não creem que os
afarensis tenham deixado sequer descendência, não
passando de um ramo seco dos hominídeos, no que acreditamos.
É que inúmeros fósseis da espécie
foram achados com a mesma idade do Homo habilis. Afinal chegaram
a ser contemporâneos e até do segundo homem,
o Homo erectus, que surgiu há 1,6 milhões de
anos. E, se ambos conviveram há 2 milhões de
anos no mesmo espaço, aquele tipo de australopiteco,
mais propriamente levando uma vida arbórea e que desapareceu
há 1,5 milhão de anos, não poderia ser
elo encadeador da linha evolutiva do homem.
A todas as luzes, é impossível que nossos ancestrais
remotos tenham descendido de outros animais que existiram
simultaneamente com eles. Nossa espécie seguiu sozinha
em sua escalada evolutiva, a partir do Homo habilis, sendo
que este não é ancestral do Homo sapiens, e
sim o primeiro homem, cuja evolução redundou
no Homo erectus e, por fim, em nós.
Os hominídeos evoluíram muito mais cedo do que
se imaginava. Em Laetoli, na Tanzânia, foi achada uma
série de pegadas preservadas em cinzas vulcânicas
pulverizadas e molhadas pela chuva, tratando-se de icnofósseis
na rocha. Outra camada de cinzas oriunda do vulcanismo cobriu
a seguir essas marcas, após virando rochas duras, datadas
de 3,5 milhões de anos atrás, isto em 1976.
A todas as luzes, depreende-se que esses indivíduos
abandonavam apressadamente o lugar em busca de outro distante
daquele vulcão então ativo, percorrendo um caminho
sobre a larva morna de dias anteriores. Um desses animais
chegou a dar uma ligeira parada e se virou em direção
ao leste, provavelmente olhando para o vulcão ativo,
prosseguindo com os seus a seguir.
Conclui-se daí que pelo menos os três indivíduos
dessas pegadas, atribuídas aos Australopithecus afarensis,
passaram pelo lugar sobre dois pés, estando do lado
direito dos mesmos a cratera do perigoso vulcão Sadiman.
Essas pegadas revelam pés chatos e um ângulo
bem maior entre o dedão e os demais dedos dos pés.
Aqui
é forçoso imaginar, em análise meticulosa,
uma anatomia apropriada para subir e descer árvores.
Esses pés indicavam que ainda agarravam o chão,
e não que habitualmente o pisavam. Não foi possível
imaginar como um pé mais parecido com o de macaco pudesse
vir a desenvolver-se para uma versão moderna de pés
humanos. Richard Leakey formula esta pergunta, que ele mesmo
responde (obra citada, pág. 71):
“Essas criaturas seriam formas primitivas do Homo?
É difícil imaginar como essa pergunta pode algum
dia ser respondida com certeza.”
As impressões em Laetoli, de 17 cm de comprimento por
11 de largura, descobertas a uma profundidade de 5 metros,
foram recebidas com desdém por parte dos pesquisadores.
Kevin Hatala, da Universidade de Chatham, na Pensilvânia
(EUA), concluiu que aquela marcha de afarensis se apresentava
bastante estranha aos olhos modernos, pois eles deviam curvar
os joelhos quando cada pé tocasse o chão, como
fazem os humanos.
Em outras palavras, poderia ter ocorrido em Laetoli um raro
bipedismo em andar gingado, forçado ao que parece pelo
temor daqueles seres ao meio ambiente então hostil.
Como diz o ditado, necessidade faz sapo pular. Pequena nota
na revista “Visão”, de 27 de novembro de
1978, diz que “há muito tempo – 3,5 milhões
de anos – a criatura queimou a sola dos pés ao
caminhar sobre as cinzas ainda quentes de um vulcão,
deixando sobre elas suas marcas. Estas se fossilizaram e agora
voltam à luz, após uma escavação
dirigida pela paleontóloga
britânica Mary Leakey financiada pela Nacional Geografic,
associação americana que estimula e patrocina
esse tipo de pesquisa.”
A corrente simpática ao afarensis como nosso ancestral
argumenta, porém, conforme já dissemos antes,
que o lugar estaria úmido no momento, sendo uma segunda
erupção a lançar mais cinzas sobre as
pegadas, preservando-as afinal. Pingos possivelmente de uma
chuva momentânea também ficaram preservados,
ao lado daquela marcha animal.
“A cratera fumegante do Sadiman encontrava-se à
sua direita”, conforme Richard E. Leakey (filho de Mary
e Louis Leakey) e Lewin (idem, pág. 71), que procuraram
explicar este andar gingado com os chimpanzés (ibidem,
pág. 76):
“Os outros músculos nos permitem andar equilibradamente
em vez de gingarmos, como acontece com os patos ou os chimpanzés
em suas breves incursões no bipedismo. (...). Se, no
entanto, você fosse um chimpanzé, formar-se-iam
duas linhas de pegadas: o chimpanzé coloca o peso do
corpo sobre o pé direito, por exemplo, movendo seu
corpo naquela direção e depois sobre o esquerdo,
mudando outra vez o movimento; daí o andar gingado.
Os humanos certificam-se de que os pés estão
no centro antes de começar a andar.”
O antropólogo francês André Leroi-Gouhan
concorda que esse australopiteco já apresentava sinais
de artelhos voltados para fora e apoiando-se sobre a parte
externa dos pés, mais ou menos como os patos.
O Dr. Russel Tuttle, professor de antropologia da Universidade
de Chicago, acredita que a estrutura do pé e do joelho
de Lucy poderia ser inteiramente esticada (“The New
York Times”). Como dissemos antes, uma perna inteiramente
esticada trazia então e traz a condição
de um ser não poder dobrar os joelhos quando cada pé
tocasse no chão. O homem, no seu andar, dobra os joelhos
– simples assim. Conforme ainda o Dr. Russel Tuttle,
a bacia e os pés de Lucy ainda conservam traços
de habitantes de árvores, mas indicando uma recente
transição para a vida terrestre. Isto, refrisando,
não procede porque o afarensis era basicamente arbóreo.
E, como quer que seja, tendo sido contemporâneo tanto
do Homo habilis como do Homo erectus, impossível afirmar
ter o mesmo evoluído para o que nós somos hoje.
Em
análise posterior do terreno, por determinação
das autoridades da Tanzânia, que queriam construir um
museu em Laetoli, o pesquisador Fidelis Masao, da universidade
local Dar es Salaam, e seus colegas encontraram outras pegadas
de mais dois indivíduos. As primeiras pegadas foram
atribuídas a uma família de dois adultos e um
jovem. Com a identificação de pegadas de mais
dois indivíduos, estudiosos da matéria propuseram
uma nova teoria sobre a ordem social do grupo, de aplicação
inimaginável à espécie humana. “Ao
ver que mais dois adultos estavam presentes, podemos supor
que eles eram semelhantes aos gorilas: um único macho
dominante, acompanhado por suas fêmeas e seus descendentes”,
afirmou Giorgio Manzi, da Universidade Sapienza, em Roma.
A descoberta de um fóssil de um hominídeo do
sexo feminino, com três anos de idade, foi descrita
na revista científica inglesa “Nature”,
de 21 de setembro de 2006. A criatura estava num sítio
arqueológico de Dikika, situado na margem direita do
Rio Aonache, na Etiópia. A localidade é bem
próxima de Hadar, onde em 1974 foi encontrada Lucy.
O novo achado, em bom estado de conservação,
coube a uma equipe internacional liderada pelo pesquisador
etíope Zaresenay Aleniseged, que trabalha no Instituto
Max Planck de Leipzig, Alemanha. Como era da mesma espécie
da famosa Lucy, recebeu o nome de “filha”
desta.
O estudioso chileno René Bobe, da Universidade de Geórgia
(EUA), frisou sobre o fóssil da “filha de Lucy”:
“O espécime é muito frágil, mas
de diversas maneiras está mais para um chimpanzé
do que para um ser humano. Ficou tão bem preservado,
porque foi enterrado logo depois de morrer, talvez em uma
inundação. Com três anos, essa garota
provavelmente ainda era muito dependente de sua mãe.
Mas já devia estar explorando a paisagem sozinha, por
períodos curtos.”
Para
Bernard Wood, da Universidade de George Washington, “o
bebê de A. afarensis tinha braços capazes de
subir em árvores, como o macaco. Era mais independente,
como um chimpanzé.”
Retomando o tema da origem africana de hominídeos,
ainda vem sendo procurado um suposto candidato para ancestral
comum das espécies de Australopithecus posteriores
e a corrente humana da evolução. Como mais ossadas
de australopitecos se revelaram no Danakil, muitos paleoantropólogos
observaram destacada divergência em seus crânios
e tamanhos corporais.
Vale dizer que não uma, mas várias espécies
de Australopithecus existiram em Danakil. E mais, qualquer
uma delas - ou nenhuma delas, mais acertadamente – poderia
ser ancestral do primeiro homem, o Homo habilis, nosso antepassado
direto. Se bem observado comparativamente, o afarensis, não
passou de um antropoide arbóreo, quiçá
um grande símio, com raros hábitos semibípedes
em descidas ligeiras até o solo. Detinha um cérebro
cerca de 50 por cento menor do que o do homem moderno (650
cc contra 1.350 cc), do que se deduz uma inteligência
limitada.
Achamos, todavia, que este seu referido bipedismo, badalado
em reiteradas publicações científicas,
não se sustenta. Haja vista que não lhe seria
possível manter-se ereto por percursos médios
e longos, carregando obviamente sobre suas inábeis
pernas curtas um tronco pesado e braços enormes, além
da cabeça. A relação do osso do seu braço
superior (úmero) para o osso da perna superior ((fêmur)
é próxima da de um chimpanzé em 95 por
cento, sendo parecida com a do homem moderno somente em 70
por cento. A seu turno, o Homo habilis era dotado de bipedalismo
a lhe proporcionar um melhor ângulo de visão,
olhando as savanas por cima, e inteligência. Era também
inteiramente divorciado da vida arbórea.
Essas
primeiras criaturas humanas no parque natural da Terra deixaram
provas de uso de ferramentas, como pedras afiadas para separar
a carne da caça do osso, marcando o início do
que chamamos de pedra lascada. Esses instrumentos líticos
foram associados à tradição Oldowan,
ou Olduvaiense, em referência à Garganta de Olduvai,
na Tanzânia, onde foram primeiramente identificados,
ou seja, sua localidade típica, que também precedeu
as descobertas de Homo habilis.
O termo Olduvaiense, que se refere às primeiras indústrias
líticas de hominídeos no Paleolítico
Inferior africano, equivale ao que fora da África se
denominou de Pré-Acheulense, Paleolítico Inferior
Arcaico ou Cultura dos Seixos Trabalhados. Necessário
destacar que os líticos africanos são mais antigos.
O mesmo tipo de trabalho manual surgiu em Kada Gona, na Etiópia,
com aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás,
e, um pouco mais tarde, no território de Hadar e novamente
no Norte do Quênia, perto do Lago Turcana.
Lascas empoeiradas provenientes de lugar a Oeste do citado
Lago Turcana, confeccionadas há 3,3 milhões
de anos, não foram identificadas num primeiro momento
como ferramentas. O interessante dessas lascas é sua
datação, antecedendo o Homo habilis e coincidindo
com o afarensis, que não produzia e nem manuseava líticos.
Mais prudente seria frisar que o material não representou
ferramenta nenhuma. O seu aspecto decorre de atritos naturais,
como tantos e tantos fragmentos rochosos existentes no fundo
de rios e lagos, em cascalheiras e até mesmo dentro
de cavernas. Ademais, o primeiro homem foi datado de 2 milhões
de anos atrás (o 1470), seguindo-se a descoberta da
mandíbula de outro elemento de 2,8 milhões de
anos passados, na Etiópia, sendo mais acertado, caso
aquelas lascas, evidente pobres criativamente falado, sejam
mesmo utensílios elaborados por alguma inteligência,
atribuí-los ao primeiro homem mesmo, com elementos
fósseis até presentemente não descobertos
nas imediações da muito provavelmente inútil
pedraria em questão.
A
Garganta de Olduvai obteve notoriedade mundial no início
dos anos 60, quando Louis e Mary Leakey trouxeram à
tona um número expressivo de fósseis estudados
à luz da evolução humana. Outros espécimes
de hominídeos, provenientes do Quênia, demonstraram
que eles se espalharam pelo Leste da África pelo Vale
do Rift.
O mais famoso fóssil de um Homo habilis, de 2 milhões
de anos, foi achado às margens leste do Lago Turkana.
Recebeu o número de 1470 e acabou ficando assim conhecido.
Foi exaustivamente estudado por Richard Leakey, sendo uma
sua fotografia a capa do seu livro “Origens”.
Esse antropólogo apontou como sua principal característica
o cérebro grande, “com cerca de 800 cc (mais
da metade do de um homem moderno)”, calculando sua idade
entre 2 milhões e 2,5 milhões de anos.
Um achado que permitiu novas análises desse hominoide
se deu em 1994, quando a primeira ossada completa de um Australopithecus
afarensis masculino apareceu a menos de 10 quilômetros
do local da morte de Lucy (que era uma fêmea de 1,1m
e 29 quilos). No seu período de existência, o
clima era seco, com as savanas substituindo as florestas anteriores.
Restaram visíveis as diferenças entre machos
e fêmeas afarensis. O macho apresentava quase duas vezes
o peso e o tamanho de uma fêmea, obviamente com massa
muscular sobremodo destacada. É o que hoje chamamos
de dimorfismo sexual, que serve para diferenciar os indivíduos
de sexos distintos. Nos mamíferos o dimorfismo sexual
se liga ao comportamento sexual, mas é difícil
afirmar muito sobre o comportamento social dos afarensis.
Assim examinado, quando comparado com a fêmea, depreende-se
ter sido o macho bem mais esbelto, o mesmo provavelmente valendo
em confronto com os demais
tipos de australopitecos africanos do mesmo sexo. Enquanto
existiu, o afarensis foi também melhor sucedido em
relação aos demais da família Hominidae,
ao que tudo indica, com exceção do gênero
Homo.
A
seleção sexual e o comportamento animal são
dois fatores intimamente relacionados. Quando do ciclo reprodutor,
animais do sexo masculino exibem características ornamentais
raramente vistas nas fêmeas. Conforme registrou Charles
Darwin, antes do acasalamento, a fêmea pode escolher
um macho apenas entre seus inúmeros pretendentes. Ela
opta por aquele portador de determinadas diferenças
favoráveis em relação aos demais, que
podem estar na coloração, na forma das penas
e outros detalhes. Os caracteres do macho escolhido são
transmitidos, pelos genes, para os descendentes machos. Consequentemente,
os animais providos de cores vivas e atraentes, comportamentos
sofisticados e estruturas bem desenvolvidas cruzam com maior
frequência e deixam maior número de descendentes.
Podemos citar outro exemplo: o Australopithecus robustus macho
tinha crânio maior que era dotado de uma crista dorsal
proeminente. Este detalhe a mais lhe foi importante na competição
com outros machos por uma fêmea para a cópula.
A fêmea robustus era menor e não dotada da referida
crista dorsal proeminente. Se bem que essa crista óssea
no alto do crânio era uma inserção aos
resistentes músculos mastigadores, estando presente
em grande parte dos australopitecos, mas é ausente
no A. afarensis. Os pré-molares e molares eram dentes
grandes em relação aos incisivos.
O comportamento seletivo sempre definiu o comportamento sexual
entre os humanos. Exemplificativamente, as fêmeas têm
relações menos frequentes do que os machos,
por lhe incumbir conceber e criar a prole, o que demanda tempo.
Pelas ideias darwinianas, ela pode avaliar as características
de um possível parceiro, tanto suas qualidades genéticas
quanto a sua capacidade de sustentar os filhos. Para o homem,
a cópula chega a ser uma atividade frequente e de baixo
custo. Com um número significativo de parceiras disponíveis,
ele tem probabilidade maior de disseminação
dos seus genes, sendo, assim, menos exigente em suas escolhas
no meio do universo feminino.
Segundo
Marco Aurélio Baggio, presidente emérito do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,
no seu livro “69 Etapas Evolucionistas”, Santa
Clara Editora, 2007, “a evolução quis
destacar dois tipos distintos de conformação
física, criando o papel específico do macho
e da fêmea para se complementarem ao reproduzir um novo
ser da espécie. A separação dos sexos
foi uma esperta estratégia evolutiva para aumentar
a diversidade das espécies, permitindo maior segurança
contra a consanguinidade. A masculinidade produz milhões
de gametas nadadores – os espermatozoides. As fêmeas
produzem um único enorme gameta por vez – o óvulo.
Sua fecundação por anisogamia – heterogamia
– constitui um entre muitos outros sistemas naturais
de reprodução. (...). A sexualidade é
extremamente vantajosa para a ampliação do número
de espécies de fungos, de plantas e de animais. O preço
a pagar pela sexualização é o envelhecimento
e a morte. Esta se dá mediante o desgaste interno do
ser vivo, ao longo do seu ciclo vital, por apoptose ou tanose.
A morte é a primeira e principal “doença”
sexualmente transmissível.” Heterogamia é
o tipo de reprodução sexuada com gametas diferentes,
podendo ser do tipo anisogamia, na qual os gametas diferem
no aspecto morfológico. O feminino é maior que
o masculino. A apoptose é um tipo de morte celular
programada, também sendo chamada de “suicídio
celular”.
A subordem Anthropoidea é considerada a mais evoluída
dos primatas e se subdivide em três superfamílias:
dos Ceboidea, que são os macacos do Novo Mundo; os
Cercopithecoidea, macacos do Velo Mundo; e os Hominoidea,
que abrangem os pongídeos (gibões, chimpanzés,
gorilas e homens). Estas três grandes famílias
estrearam no cenário da Terra no Oligoceno (38 milhões
de anos). Em épocas anteriores (Paleoceno e Eoceno),
os prossímios arbóreos, como lêmures,
társios, lóris e aiais (lêmure noturno
de Madagascar), são os únicos fósseis.
Restos de pongídeos são mais encontradiços
que os dos demais macacos. Esses primatas sem cauda são
tidos como os mais evoluídos do mundo animal, e podemos
frisar que os ancestrais dos homens se ligam aos mesmos.
O homem não descende de nenhum macaco, sendo apenas
primo deste. Os primatas atuais mais próximos do homem
são os monos, compreendendo chimpanzé, gorila,
gibão e orangotango. Mono é designação
comum a antropoides primatas em geral, particularmente aos
não dotados de cauda e detentores de longos braços.
Todos possuem esqueleto, fisiologia, susceptibilidade aos
parasitas, grupos sanguíneos e outros caracteres muito
semelhantes aos Homo, porém sem ser nossos ancestrais.
Nossa evolução foi separada da desses símios,
que hoje vivem nas matas.
O gibão, por exemplo, um primata superior como os homens,
tem uma curiosa aparência que o distingue de nós:
quando abandona os galhos, nos quais se locomove em braquiação
(balanceamento dos braços), em busca do chão,
o faz de maneira bípede, ao contrário dos outros
seus três congêneres (gorila, chimpanzé
e o orangotango), que o fazem com os quatro membros. Porém,
para andar a céu aberto, em busca de um equilíbrio,
o gibão estica os braços para trás, assim
sem liberar propriamente as mãos. A liberação
das mãos foi essencial
à hominização.
A bipedia no homem é perfeita, tendo a sua bacia pélvica
como suporte do tronco. A coluna vertebral, com as quatro
curvas que se opõem simultaneamente, cria, ao lado
da bipedia, a verticalidade completa em nossa espécie.
Esta mesma coluna vertebral mantém o crânio no
topo, em posição de equilíbrio. Duas
consequências resultam desta postura: a liberação
das mãos e a possibilidade do desenvolvimento do crânio
com relação à diminuição
do tamanho da face e dos maxilares. Estes fatores essenciais
à hominização não estão
presentes nos demais primatas. O desenvolvimento do crânio
e aprimoramento da face e dos maxilares estão implícitos
na bipedia, sem serem isoladamente causas da hominização.
O
aumento do volume do crânio e a diminuição
do tamanho da face e dos maxilares são consequências
da posição de equilíbrio do crânio
humano sobre a coluna vertebral. Esta, nos símios,
não sustenta o crânio por baixo, mas vem encontrar
o buraco occipital por trás. No homem, o buraco occipital
encontra-se exatamente no centro inferior. A cabeça
do símio teria assim tendência a cair para a
frente, se não fosse a poderosa musculatura que, partindo
em feixe do pescoço e da nuca, vem retê-la sobre
a coluna vertebral.
Os seres humanos, ao contrário de outros primatas,
têm pouco pelo no corpo, o que se explica por ele ser
dotado de um sistema de refrigeração próprio,
ausente em qualquer outro primata: a transpiração
pelos poros do seu corpo. Acreditamos que todos os diversos
tipos de australopitecos eram inteiramente cobertos de pelos,
porque nunca foram propriamente pertencentes ao puro gênero
Homo. O afarensis, em particular, para nós um hominoide
traduzido em um grande símio, a exemplo daqueles seus
congêneres, se mostrava revestido de pelos, o que é
uma conclusão nossa.
Para
sobreviver debaixo do sol equatorial africano, a pele assim
desnuda do homem teria de ser (como era) protegida por uma
quantidade considerável de melanina, pigmento escuro
que protege o tecido da luz ultravioleta. Esta é a
razão de o homem ser originariamente negro. Quando
ele migrou para regiões ao norte da Terra, nas quais
os raios solares são bem mais escassos, há cerca
de 45 mil anos, tempo este relativamente recente, sua cor
foi clareando porque a referida pigmentação,
proteção natural contra possíveis queimaduras
e doenças
como câncer de pele, foi perdendo sua importância
e permitindo uma melhor absorção da luz ultravioleta,
fonte vital de vitamina D.
Acresce notar, a propósito, que estudos em um esqueleto
de 10 mil anos, batizado de homem de Cheddar, encontrado em
Cheddar, no Reino Unido, especialmente com a reconstituição
do seu rosto em um scanner de alta tecnologia, revelou um
fenótipo totalmente oposto à pele branca de
muitos britânicos. Era um tipo negro de olhos azuis.
“A combinação de uma pele muito escura
com olhos azuis não é o que normalmente imaginamos,
mas essa era a aparência real dessas pessoas”,
disse Chris Stringer, do Museu de Ciências Naturais
de Londres, onde a imagem do homem de Cheddar foi exposta.
O Homo habilis (“pessoa habilidosa”) era onívoro,
alimentando-se tanto de animais como de vegetais, podendo
colher seus alimentos e levá-los para comer tranquilamente
longe de competidores, desenvolvendo também destreza
artesanal. A seu turno, o Australopithecus afarensis, que
cientificamente não é classificada no gênero
Homo, sendo apenas da família Hominidae, tinha uma
dieta suave voltada para lagartos, ovos, pequenos mamíferos
e frutas. Seus dentes eram pequenos e sem especialização.
E nem seria conveniente se pensar
de forma diferente, uma vez que a cabeça de um afarensis
comportava um cérebro que não era muito maior
que o de um chimpanzé, indicativo de uma inteligência
rudimentar, sem ter sequer produzido ferramentas e não
fazendo uso do fogo.
Se bem que a inteligência não é apenas
uma conquista humana. Ela é notada em outros animais,
mesmo em proporções diminutas, que possuem algum
grau de reconhecimento, capacidade de elaboração
de instrumentos de trabalho e tendo soluções
simples para buscar alimentos. Cientistas da atualidade concluíram
por vários graus de complexidade inteligente em mamíferos,
como golfinhos, elefantes e principalmente entre primatas.
Constataram que o homem compartilha com eles algumas características,
que antes se achava exclusividade nossa. A linguagem simbólica
é um desses exemplos, sendo compartilhada entre primatas
como o chimpanzé. Também a caça cooperativa,
comum entre os homens pré-históricos, sempre
foi praticada entre inúmeros mamíferos.
Por outro lado, o desaparecimento de determinadas espécies
nunca foi fato incomum na pré-história. Tomemos
como melhor exemplo o próprio Australopithecus afarensis,
que, quanto mais estudamos, percebemos tratar-se de um aborígene
com alguma capacidade de descer até o solo. O Homo
habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens nunca levaram a vida,
ou mesmo parte dela, em árvores, chegando a escalá-las
em ocasiões específicas, como fugindo de um
predador, em busca de frutas ou para verificação
de um território propício a caçadas,
por exemplo.
Conhecemos uma reconstituição do seu fóssil
mais famoso, Lucy, no Museu de História Natural dos
Estados Unidos, em Nova Yorque, em 2017. Se muitos a querem
como um ser bípede, estudos recentes mostraram que
Lucy passava grande parte do seu dia em árvores, possuindo
braços fortes o suficiente para subidas regulares em
suas ramagens superiores, ao passo que suas pernas eram relativamente
fracas, não utilizadas na escalada e ineficazes para
caminhar.
Outra pesquisa, publicada em setembro de 2016, na revista
“Nature”, concluiu que esse A. afarensis morreu
ao cair de uma árvore particularmente alta, ao pular
de um galho para outro, conclusão a que se chegou ao
se analisar uma fratura óssea nos restos fossilizados
desse hominídeo.
“WASHINGTON, EUA. Lucy, a famosa Australopithecus
que viveu há 3,18 milhões de anos, provavelmente
passava ao menos um terço do seu dia em árvores,
de acordo com uma pesquisa divulgada na última quarta-feira.
Nossa antiga ancestral (sic), cujo esqueleto parcial fossilizado
foi descoberto na Etiópia em 1974, provavelmente se
movia tanto como um chimpanzé moderno quanto como um
homem moderno, de acordo com um novo estudo publicado na revista
científica “Plos One” por pesquisadores
da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, e da
Universidade do Texas, em Austin. Esse exemplar de Australopithecus
afarensis, de cerca de um metro de altura, vem confundindo
os paleontólogos há anos. Eles debatem se o
hominídeo bípede de 27 quilos passava a maior
parte do tempo no chão, como os seres humanos modernos,
ou nas árvores, como os chimpanzés. O estudo
concluiu que Lucy tinha braços fortes, sugerindo que
ela subia em árvores regularmente, e pernas relativamente
fracas, que não eram utilizadas na escalada e que eram
ineficazes para caminhar. A combinação das duas
descobertas levou os pesquisadores a concluírem que
Lucy provavelmente se aninhava em galhos de árvores
durante a noite, a fim de evitar predadores, usava seus braços
para se locomover entre as árvores e possivelmente
procurava alimentos entre os
ramos. Os pesquisadores analisaram os ossos de Lucy combinando
35 mil imagens individuais tomadas por um poderoso scanner
capaz de penetrar nas camadas de minerais em seus restos fossilizados
e de produzir imagens de alta definição. Eles
estudaram as estruturas internas dos ossos superiores dos
dois braços de Lucy e do fêmur de sua perna esquerda
e descobriram que seus membros superiores eram altamente desenvolvidos
– sugerindo que eles tinham músculos fortes,
semelhantes aos dos chimpanzés modernos que escalam
árvores. “É um fato bem estabelecido que
o esqueleto responde às cargas durante a vida, adicionando
ossos para resistir a forças elevadas e subtraindo
ossos quando as forças são reduzidas”,
disse John Kappelman, professor de antropologia da Universidade
do Texas e um dos principais autores da pesquisa. Robustez.
Os esqueletos de chimpanzés têm membros superiores
mais robustos, porque usam os braços para escalar,
enquanto os humanos têm membros inferiores mais desenvolvidos
devido à caminhada, de acordo com Christophe Ruff,
professor de anatomia da Universidade Johns Hopkins e coautor
do estudo. “Os resultados sobre Lucy são convincentes”,
disse. Outro estudo divulgado em setembro concluiu que Lucy
provavelmente morreu ao cair de uma árvore particularmente
alta. A pesquisa, publicada na revista britânica “Nature”,
chegou a essa conclusão após a análise
de uma fratura óssea nos restos fossilizados do hominídeo.
Mas os cientistas tiveram dificuldades para determinar exatamente
quanto tempo Lucy passava fora do chão. O novo estudo
sugere que, se ela dormisse cerca de oito horas por dia, teria
passado pelo menos um terço de seu tempo entre os galhos.
Outras comparações sugerem que, mesmo quando
Lucy caminhava sobre suas duas pernas, ela fazia isso de forma
menos eficiente do que os humanos modernos, com uma capacidade
limitada de se mover por longas distâncias a pé.”
(Jornal
“O Tempo”, Belo Horizonte, 03/12/2016).

Este autor ao lado da reprodução
do fóssil de Lucy, no Museu de História Natural
dos EUA, em Nova York. (Foto de Lorena Campos).
A
razão do surgimento do bipedalismo continua sendo estudada,
mas sem nada conclusivo, e tal assunto por certo permanerá
inconclusivo por todo o sempre. Uma entre tantas especulações
pode ser encontrada no livro “Os Primeiros Americanos”,
de J. M. Adovasio e Jake Page (Editora Record, Rio de Janeior
e São Paulo, 2011, págs. 100/101):
“Na verdade, a postura ereta e a locomoção
bípede foram as adaptações mais radicais
levadas a cabo pelos nossos ancestrais naqueles tempos remotos.
Provavelmente nunca saberemos quais as características
do meio ambiente ou outros fatores que estimularam aquela
adaptação revolucionária e fundamental,
mas é possível que um surto de temperaturas
frias em algum momento do Plioceno, entre 6,5 milhões
de anos e 5 milhões de anos atrás, tenha desempenhado
um papel. De acordo com essa hipótese, a expansão
da camada de gelo no Antártico fez baixar o nível
do mar no mundo inteiro, incluindo o Mediterrâneo. Isso,
por sua vez, alterou o esquema de precipitação
pluvial nas florestas da África e acabou por fazer
com que se retraíssem. Em consequência da redução
da cobertura florestal, numerosas espécies arbóreas
de primatas sumiram, enquanto outras se tornaram, pelo menos
em parte, terrestres.
“Para alguns desses novos animais terrestres, o
andar ereto ofereceu certas vantagens. Eles poderiam, por
exemplo, percorrer longas distâncias com menor dispêndio
de energia. A vida nas árvores pode parecer simples,
a julgar pelo comportamento dos macacos de hoje: basta deslocar-se
sem precipitação e acompanhar o ciclo regular
de frutificação das árvores da floresta.
Já os que caminhavam no solo precisavam explorar áreas
mais vastas a fim de encontrar o que comer. Do mesmo modo,
o bipedalismo liberava os membros superiores para poderem
carregar o alimento coletado, e também para manejar
objetos (varas, por exemplo), os quais por sua vez, podiam
facilitar o achado da comida. Com os membros superiores livres,
o bípede era capaz também de carregar os filhos
para onde quisesse.”
Os mesmos autores são de opinião que numerosos
episódios de esfriamento e secagem ocorreram nas latitudes
médias do planeta, entre 3 milhões e 2 milhões
de anos atrás, sendo que “como resultado, a cobertura
florestal na África voltou a diminuir, a savana aberta
cresceu, e a transferência de espécies adaptadas
à floresta para a savana continuou”.
Ora, como já consignado, a postura bípede existia
há cerca de 3 milhões de anos, portanto aqueles
novos fenêmenos ambientais registrados entre 3 milhões
e 2 milhões de anos atrás poderiam ter representando
pouco para a bipedia humana, lembrando ainda que o A. afarensis
tinha pelo menos um andar bastante precário no solo,
há 3,18 milhões de anos. Ademais, há
as pegadas de criaturas que caminharam em pé em cinzas
vulcânicas pulverizadas com 3,5 milhões de anos
atrás, em Laetoli, na Tanzânia. Queremos crer
que pelo menos o processo de diminuição do ciclo
de águas, que deu lugar aos campos abertos na África,
teve início há mais de três milhões
de anos, talvez se iniciando há cerca de quatro milhões
de anos, não mais, lembrando que os mesmos autores
mencionam temperaturas frias em algum momento do Plioceno,
entre 6,5 milhões de anos e 5 milhões de anos
atrás, quando as florestas dominavam o cenário.
Enfim, o homem surgiu ali pelas planícies das atuais
nações africanas Quênia, Tanzânia
e Etiópia (situadas numa linha denominada de Vale da
Grande Fenda, uma decorrência de falha na crosta terrestre),
há 2,8 milhões de anos. Era o supramencionado
Homo habilis, o pai da nossa espécie, estreando no
parque natural da Terra.
Esta sua idade novamente se comprovou com a descoberta, por
um estudante, de um fragmento de sua mandíbula com
cinco dentes, em 2013, em uma região de rastreamento
em Ledi-Geraru, na Etiópia, o que levou a comunidade
científica a proclamar tratar-se do mais antigo resto
do indivíduo Homo, ou seja, o Homo habilis, que inaugurou
nossa linhagem. O extraordinário achado, antecipando
em 400 mil anos a origem do homem, logo ocupou as revistas
científicas especializadas no tema e a mídia
internacional:
“Encontrados há apenas dois anos na árida
região de Ledi-Geraru, no Estado de Afar da atual Etiópia,
fragmentos de uma mandíbula datados de 2,8 milhões
de anos podem ser os mais antigos restos de um indivíduo
do gênero Homo conhecidos, anteriores em 400 mil anos
aos mais velhos que já tinham sido achados.
Com dentes menores que os vistos nos australopitecos e um
formato
mais proporcional e peculiar, os pesquisadores acreditam que
a mandíbula
reconstituída pertenceria a um representante da espécie
Homo habilis
(...). Além disso, a idade do fóssil e o local
onde foi encontrado o coloca
perto do tempo e no espaço ao fóssil da famosa
Lucy, que está entre os mais
bem preservados e antigos restos de um indivíduo da
espécie Autralopithecus
afarensis, encontrados em 1974 no sítio de Hadar e
datados em pouco
mais de três milhões de anos.
- O registro fóssil no Leste da África,
entre dois milhões e três milhões de anos
atrás, é muito pobre, e existem relativamente
poucos fósseis que podem nos dar informações
sobre as origens do gênero Homo – lembrou Brian
Villmoare, paleoantropólogo da Univerisade de Nevada,
nos EUA, e um dos líderes da pesquisa, publicada na
edição desta semana da revista “Science”,
em teleconferência ontem. – Este, porém,
é um dos períodos mais importantes da evolução
humana, já que, nesta época pouco conhecida,
os humanos fizeram a transição dos mais símios
autralopitecos para os padrões adaptativos modernos
vistos nos Homo. Assim, o que há de tão especial
nessa mandíbula não é só sua idade,
muito mais velha que qualquer exemplar de Homo conhecido até
agora, mas também sua combinação única
de traços, da altura da mandíbula ao formato
dos dentes, que a faz uma clara transição entre
os australopítecos e os Homo. O fato de ter características
tão claras alinhadas com as dos Homo há 2,8
milhões de anos nos ajuda a restringir o tempo dessa
transição e sugere que ela foi relativamente
rápida. Em outro artigo também publicado na
“Science” desta semana e que acompanha o estudo
sobre o fóssil, os cientistas procuraram descrever
o contexto geológico e ambiental onde ele foi encontrado.
Há tempos os especialistas desconfiam que mudanças
climáticas ocorridas nesta época na África,
com exuberantes selvas dando lugar a uma paisagem mais árida,
parecida com as atuais savanas, estimularam um processo de
adaptação que foi responsável pelo fim
dos australopitecos e emergência dos Homo. Na mesma
área onde a mandíbula foi encontrada, os pesquisadores
acharam fósseis de espécies pré-históricas
de antílopes, elefantes, hipopótamos e outros
animais relacionados com habitats mais abertos, dominado por
grama alta e arbustos e com árvores mais espaçadas.
- Podemos observar esse sinal de maior aridez há 2,8
milhões de anos na fauna comunal de Ledi-Geraru –
disse Kaye Reed, professor da Universidade do Estado do Arizona,
outro integrante da equipe responsável pela descoberta,
que participou da teleconferência da Etiópia.
– Ainda é cedo para dizer que isso significa
que as mudanças climáticas foram responsáveis
pela origem do gênero Homo. Para isso, precisamos de
uma amostragem maior de fósseis de hominídeos
e é por isso que continuamos a vir para a região
de Ledi-Geraru em busca deles. O que sabemos é que
esses Homo antigos conseguiram viver neste habitat razoavelmente
extremo e que, aparentemente, a espécie de Lucy, os
Australopithecus afarensis, não.
Já um terceiro estudo relacionado ao tema, também
publicado ontem, mas na revista “Nature”, revisitou
o fóssil original que permitiu a identificação
pela primeira vez do Homo habilis há pouco mais de
50 anos e revelou que, entre 2,1 milhões e 1,6 milhões
de anos atrás, pelo menos três espécies
representantes do gênero conviveram na África:
além do H. Habilis, o H. Erectus e o H. rudolfensis.
Encontrados nos anos 1960 pelo respeitado e já falecido
Louis Leakey na região de Olduvai, na Tanzânia
– e que, por isso, recebeu o apelido de “Berço
da Humanidade”
-, os restos fragmentados de crânio e mandíbula
serviram de base
para uma reconstrução em 3D de como seria a
cabeça completa de um
representante da espécie, evidenciando características
que antes não puderam
ser notadas pelos especialistas.” (“O Globo”,
globo.com, Cesar Baima,
04/03/2015).
A
propósito deste Homo rudolfensis, pesquisas diversas
o consideraram tão somente uma variação
do Homo habilis, com uma coexistência há dois
milhões de anos e compartilhando muitas semelhanças,
sendo ambos, por conseguinte, uma única espécie.
Estudos outros mostraram que seriam grandes as diferenças
entre os dois. Esta a razão para não serem inseridos
dentro de uma mesma espécie. Esse elemento chegou a
ser considerado habilis e rudolfensis, isto é, dois
tipos raciais coexistindo, quando é certo ser a raça
humana uma só, não comportando nenhuma exceção.
Condições ambientais diversas buscadas para
habitação e sobrevivência hominídea
e também isolamentos geográficos acabam por
vezes mostrando pequenas mutações numa mesma
raça. O isolamento genético de um grupo social
acaba trazendo tais alterações. Os genes mutados
se misturam nos seres de cada grupo populacional, e cada um
desses grupos tem alterado seu genótipo e mesmo o fenótipo,
pela incorporação ao seu patrimônio hereditário
dos genes que sofreram mudanças. Confinamentos de tal
ordem chegam mesmo a redundar no aparecimento de subespécies
ou variedades de uma mesma espécie.
Todavia, esse H. rudolfensis chegou a também ser contemporâneo
do Homo erectus, tendo este último vivido entre 1,8
milhões de anos ou 1,6 milhões de anos atrás
e 100-200 mil anos atrás. A coincidência da igualdade
temporal dos dois não é um bom sinal para tentarmos
colocar o homem de Rudolf como o primeiro homem, em detrimento
do Homo habilis. Para ser o primeiro homem, o mesmo teria
de vir antes do Homo erectus, e nunca ter sido seu contemporâneo.
Através de trabalhos com moldes do interior de crânios
fósseis que fez, o antropólogo americano Ralph
L. Holloway, da Universidade Colúmbia, localizou indícios
da área de Broca (um dos vários centros da região
cerebral imprescindíveis à fala) num fóssil
de Homo habilis de mais de dois milhões de anos, do
que se conclui que o desenvolvimento da linguagem pode ter
começado ao lado já das primeiras indústrias
líticas (no caso, uma linguagem onomatopaica), conforme
é possível ler no antes citado livro “O
Homem na Pré-História do Norte de Minas”,
pág. 17. Cérebros humanos modernos têm
uma protuberância que corresponde à área
de Broca, que, refrisando, é importante centro da fala.
Acresce notar ainda que o Homo habilis difere do A. afarensis
na base do crânio. O buraco occipital, que é
a abertura para a medula espinhal, é mais próximo
da média do crânio. O rosto desse primeiro homem
diminuiu em largura e sua abertura nasal é mais bem
definida, sendo seus dentes postcaninos menores do que em
australopitecos.
Ostentava um cérebro que poderíamos considerar
pequeno para os padrões atuais, mas que se destacou
a seu tempo se comparado com o de seus predecesssores: entre
650 e 700 centímetros cúbicos (e não
800 centímetros cúbicos, “o dobro do tamanho
do de Lucy”, como sugeriu R. Leakey). Seu sucessor,
o Homo erectus, possuía 900 centímetros cúbicos,
vindo após o Homo sapiens, os homens modernos que somos
nós, com cerca de 1.300/1.400 centímetros cúbicos
de cérebro (no homem de Neanderthal o cérebro
chegava a 1.500 cc).
Se não somos propriamente velocistas quando nos comparamos
aos quadrúpedes, somos os únicos primatas e
um dos poucos mamíferos a praticar corridas de resistência,
como cavalos e cães: “Pensa-se que a corrida
de resistência evoluiu com o gênero Homo, uma
vez que algumas das especializações que permitem
resistência em execução (como dedos curtos,
um dedão do pé aduzido, uma cabeça mais
equilibrada, ligamentos do pescoço e um cacâneo
alargado) evoluiu no Homo habilis. Outras características
(tais como canais ampliados semicirculares, antebraços
mais curtos e maior quadril, perna e locais de fixação
muscular nas costas, pernas mais longas e uma articulação
sacro-ilíaca mais forte) evoluíram em Homo erectus.
E vários outros recursos (a cabeça que era mais
independente a partir do ombro, uma estreita pleve, um pé
arqueado e um longo tendão calcâneo) evoluíram
cedo na linhagem Homo, embora o ponto exato seja desconhecido”
(Bramble, 2004).
A hominização, que é a evolução
física e intelectual do homem, de sua origem até
hoje, se mostrou diferente em relação aos antropoides,
mormente pelo tamanho do seu encéfalo e mandíbula,
por sua postura ereta e constituição de relações
sociais complexas. O nosso desenvolvimento e morfologia se
resumem na genética. O DNA, que traz o código
genético de um organismo, é que mostra as diferenças
registradas entre nós e os demais animais. Os cromossomos,
que estão em cada uma das células, é
que constituem o DNA. A célula é a unidade vital
dos organismos complexos, sendo a vida resultante das funções
de todas as células. Os organismos vivos podem ser
manipulados pelo homem pela engenharia genética, o
que já acontece.
Incursões
pelo genoma ainda são tímidas, quando o ideal
seria seu manejo com mais coragem e acuidade. Infelizmente,
desde o nascedouro do Projeto Genoma, descortinando novas
perspectivas alvissareiras para a humanidade e com o condão
de abrir muitas cortinas sobre nossas origens, este marco,
talvez o passo mais avançado da ciência moderna,
encontra-se hoje praticamente estagnado.
Como se pode perceber raciocinando mesmo razoavelmente, uma
parte considerável dos pesquisadores envolvidos mostra-se
temerosa diante do pensamento e julgamento conservador de
terceiros, com suporte especialmente em princípios
religiosos, como sempre, proclamando estar o homem “brincando
de Deus”. Ou seja, levado novamente adiante, o genoma
nos proporcionará horizontes mais amplos sobre passado,
presente e futuro, ao lado de aguardadas novas descobertas
no campo da arqueologia.
“O conjunto de evidências indica que nossa
evolução não foi nem especial nem atípica
com relação à de outros animais. Assim,
seria de esperar que aquilo que sabemos sobre a evolução
de outras formas de animais também deve servir, de
modo geral, aos humanos. De fato, nossa extrema proximidade
genética dos chimpanzés, bem como as semelhanças
genetícas entre primatas e outros mamíferos,
apontam para um tema familiar. Os conjuntos de genes para
a formação desses animais e dos seres humanos
são bastante parecidos. As diferenças na morfologia
final – tanto as grandes quanto as pequenas –
devem, portanto, estar relacionadas ao modo como esses genes
são utilizados – ou (...) como deixam de ser
usados.
A causa essencial das alterações evolutivas
no desenvolvimento e na morfologia dos seres humanos é
a genética. Em algum lugar de nosso DNA residem as
diferenças entre nós, os grandes primatas e
os primeiros hominídeos. (...) A boa notícia
é que já conhecemos a sequência completa
dos genomas de um ser humano, um chimpanzé e um camundongo.
A má notícia envolve um pouco de aritmética.
A sequência do DNA humano é composta por três
bilhões de pares de bases. A do chimpanzé é
cerca de 98,8% igual à nossa. É uma dirença
total de apenas 1,2% a menor entre qualquer outro animal do
planeta. (...)
...mudanças nos interruptores genéticos
são responsáveis por muitas diferenças
na morfologia animal. Como a evolução humana
se dá essencialmente pela alteração do
tamanho, forma e anatomia detalhada das estruturas e do momento
em que são geradas ao longo da enbriogênese,
é natural que a evolução dos interruptores
tenha um papel relevante. Cada aspecto de nosso corpo é
uma variação do modelo geral dos mamíferos
ou primatas. Isto nos permite acreditar que os indícios
genéricos nos mostram a evolução dos
primatas e humanos devendo-se mais a alterações
no controle dos genes que nas proteínas que condificam.”
(Sean B. Carrol, professor e biólogo, em “Infinitas
formas de grande beleza”).
Giro outro, os pouquíssimos fósseis humanos
conhecidos da sua aurora surgiram em pontos ínfimos
da Terra, ao contrário de restos de organismos mais
remotos, tipo plantas e animais como trilobites e amonites.
Fósseis marinhos pulularam por uma diversidade de locais
em que surgiram e viveram, ao que se soma um tempo sobremodo
maior de vida naqueles ambientes bastante favoráveis
à fossilização.
Os homens são tardios na escala do tempo biológico
e sequer surgiram em grande número. Inteligentes, ocuparam
terras firmes, evitando por inteiro charcos, proximidades
de areias movediças, atoleiros, lugares pantanosos
e barreiros (os cinco últimos apropriados à
fossilização), ao contrário de uma gama
de outros animais muito bem documentados no registro fóssil
ocupantes desses lugares inconvenientes ao Homo. Mesmo caçadores/coletores,
aqueles nossos antepassados ainda buscavam caminhos mais seguros
em suas andanças
e mudanças.
Portanto, quando morriam, de um modo geral, os seus ossos
eram facilmente triturados por animais predadores ou carniceiros,
sendo também roídos por roedores e mesmo corroídos
ou raspados por diversas espécies de formigas. Esta
a razão do escasso registro fóssil dos primeiros
homens, e mesmo seu verdadeiro ancestral sequer foi encontrado
até presentemente. É uma balela querer inferir
verdade em estudos pífios e apressados tentando dar
o Australopithecus afarenis como esse ancentral. Tudo bem
sopesado, refriso ser Lucy e congêneres, contemporâneos
do primeiro e do segundo homens, tão somente grandes
símios peludos, de vida basicamente em cima de árvores
e inteiramente fracassados evolutivamente.
Somente quando o homem mais evoluído e, por conseguinte,
portador de uma cultura mais acurada passou a ter domínio
do fogo e a enterrar seus mortos – Homo erectus e o
Homem de Neanderthal -, é que esses restos e muitos
dos seus materiais, como líticos e adornos, se tornaram
abundantes à coleta arqueológica, em escavações
nas moradias pré-históricas, mormente em cavernas
da Europa, Oriente Médio, Índia e China.
Essa
escassez de registros fósseis da aurora da humanidade
é que tem levado uns poucos cientistas a repreender
um número até exagerado de colegas entusiasmados
que, de posse de um fragmento fóssil qualquer, principalmente
se for de procedência africana, partem para a publicação
de artigos em revistas especializadas prometendo revolucionar
a história da nossa origem.
Na verdade, creio que uma parte considerável desses
achados absolutamente nada têm a ver com o homem ou,
quando muito, seriam de seus primos distantes. Para mim, é
o caso, por exemplo, do Australopithecus afarensis.
Vejamos.
“Cientistas questionam fósseis de hominídeos.
(...) “Não me leve a mal, todas essas descobertas
são muito importantes”, disse a Nature o coator
do artigo Bernard Wood, professsor de origens humanas e evolução
anatômica da Universidade George Washington, além
de diretor do Centro de Estudos Avançados de Paleontobiologia
Hominídea da instituição. “Mas
também não podemos dizer que qualquer coisa
encontrada daquela época tem de ser um ancestral humano”,
podera.
O artigo The evolutionary context of the first hominins
(O contexto evolutivo dos primeiros hominídeos) reconsidera
a relação evolutiva de fósseis batizados
de Orrorin, Saelantropus e Ardipithecus, que datam de sete
milhões de anos atrás e foram aclamados como
os mais antigos ancestrais do homem moderno. O Ardipitecus,
mais conhecido como Ardi, foi descoberto na Etiópia
e, segundo os autores, é radicalmente diferente do
que muitos pesquisadores esperavam de um primeiro ancestral
humano. Ainda assim, os cientistas que acharam o fóssil
insistiram que Ardi era uma espécie de Adão.
“Não estamos dizendo que os fósseis
não são ancestrais humanos. Mas temos de levar
em conta interpretações alternativas. Acreditamos
que esses fósseis são mais provavelmente de
primatas que, na árvore da vida, estão situados
muito próximos ao ancestral comum dos grandes símios
e dos humanos”, explicou outro autor do artigo, Terry
Harrison, professor do Departamento de Antropologia e diretor
do Centro para Estudo de Origens Humanas da Universidade de
Nova York. Os autores confessam que são céticos
quanto às interpretações e descobertas
da última década e defendem uma nova abordagem
para a classificação dos fósseis. Harrison
e Wood argumentam ser precoce assumir que todos os ossos escavados
são ancestrais de criaturas que vivem no mundo moderno.
A comunidade científica concluiu, há tempos,
que a linhagem humana divergiu daquela que deu origem aos
chimpanzés entre 6 e 8 milhões de anos atrás.
É fácil diferenciar, hoje, o fóssil de
um chimpanzé moderno dos ossos de um homem moderno.
Porém, a tarefa fica mais árdua quando as espécies
em questão são muito antigas. Quanto mais próximas
do ancestral comum, mais difícil é diferenciá-las.
Em seu artigo, os antropólogos dizem que os cientistas
têm sido pouco críticos nesse quesito, o que
pode levar a conclusões erradas sobre as relações
evolutivas.” (PO – jornal “Estado de Minas”,
17/02/2011).
Ou seja, o processo de hominização, através
do qual o homem evoluiu física e intelectualmente desde
sua origem primata ao que representa hoje, com sua diferenciação
dos antropoides pelo andar perfeitamente ereto, cérebro
e arcadas dentárias maiores, crescimento craniano paralelamente
com a remodelagem da pelve, permitindo o nascimento de crias
de cérebros avantajados, seu modus vivendi com relações
sociais complexas, etc., com certeza, foi muito mais rápido
do que se pensa. Creio mesmo que esse elo perdido, digamos
assim, nosso verdadeiro ancestral, surgiu não entre
6 e 8 milhões de anos atrás, mas em época
mais próxima do Homo habilis com seus aproximadamente
3 milhões de anos. Não se conhece muita coisa
no período compreendido entre 4 milhões de 12
milhões de anos atrás.
Dissemos que mudanças climáticas vinham destruindo
as florestas habitadas pelos grandes símios. Uma drástica
redução nas precipitações pluviais
naquela vasta extensão de terreno coberta de grandes
árvores com suas copas se tocando acabou por retraí-las.
Inúmeros primatas arbóreos se extinguiram, dando
lugar a outras criaturas, entre elas diversas que se arriscavam
pelo chão, pelo menos em parte, porque sua evolução
compreendeu também uma convivência em campos
abertos.
Alfred Russel Wallace (1823 – 1913) concluiu que “as
espécies são compostas por diversas variedades
e que mudanças ambientais podem levar à perda
de variedades pior adaptadas e ao sucesso e sobrevivência
das mais favorecidas. Em outras palavras, ele chegou, em paralelo,
às mesmas conclusões de Darwin sobre um aspecto-chave
da teoria evolucionista” (“Evolução
– A História da Vida”, de Douglas Palmer,
Larousse, edição brasileira de 2009).
Os seres readaptados deparavam-se frequentemente com predadores
como tigres e hienas, numa evidente pressão seletiva
rumo a criaturas mais parecidas com a espécie humana.
A alteração do clima no berço da humanidade
– Quênia, Tanzânia e Etiópia –
constituiuse, pois, na mola propulsora rumo à hominização.
Foi ela, com certeza, fator preponderante, como pressão
seletiva, para o surgimento do elemento inteligente para,
por exemplo, produzir artefatos de defesa e de caça
de sobrevivência.
Ante deduções precipitadas acerca da diferenciação
de uma espécie de outra, ademais quando tratamos de
seres próximos nesta escala de tempo, é indubitável
que conclusões errôneas se multipliquem entre
os afobados na remontagem do início da história
humana. Isto é, qualquer fóssil, mesmo o mais
insignificante, é abraçado pela corrente dos
apressados na descoberta do ser que efetivamente redundou
na nossa família. Grosso modo, interpretações
alternativas vêm sendo deixadas de lado, esquecendo-se
do que realmente temos hoje: fósseis, muitos dos quais
evidentemente mais próximos dos grandes símios,
sendo avocados como pré-humanos.
Por
exemplo, foi descoberto em 2001, no Chade, no deserto do Saara,
um pedaço de crânio, nada mais, o qual combinaria
traços entre chimpanzés e hominídeos.
Com idade de 7 milhões de anos, foi batizado de Saheanthropus
tchadensis, portanto seria o mais primitivo hominídeo.
Mas diante da ausência de outros ossos, a não
ser o pedaço de crânio, sequer foi possível
saber qual a postura desse indivíduo, hoje sem grande
importância.
Ora, os novos campos abertos, como as savanas, surgidos pelos
novos tempos de aridez, em grande parte, eram inapropriados
à fossilização, principalmente quando
tratamos dos homens, originariamente pouco numerosos e tardios
na escala do tempo biológico. Como já registramos,
na nossa aurora, vivemos em solo firme, evitando charcos,
proximidades de areias movediças, atoleiros, lugares
pantanosos e barreiros, cuja lama, ou aluvião, deles
oriunda, uma vez revestindo um animal morto, assegurava a
sua fossilização e uma descoberta arqueológica
posterior relativamente fácil.
É o que ficou frequentemente registrado nas cavernas
geralmente úmidas, muitas invadidas por águas
de enxurrada, sendo comuns nessas cavidades, que serviram
de moradia ao nosso troglodita, o encontro de restos humanos.
Os cientistas são de opinião que a origem dos
hominídeos ocorreu há 10 milhões de anos.
Foi quando eles se afastaram dos demais primatas. O chimpanzé,
o primata mais próximo geneticamente do homem, não
passa de nosso primo, e não de nosso avô. O ancestral
comum e de tronco único é o fóssil ainda
não encontrado, sendo bastante incerta a sua descoberta.
As regiões úmidas de determinadas coberturas
vegetais africanas anteriores às mudanças climáticas
seriam propícias à fossilização
das espécies. Mas nada temos de concreto ou de palpável
oriundo dessas extintas florestas. O mais certo seria achar
o elo perdido na quelas áreas que substituíram
as grandes coberturas florestais, apesar dos seus predadores
e também outros fatores adversos. Todavia, esta sorte
não foi dada a ninguém até este momento,
e um achado de tamanha importância só se daria
em caso extremamente fortuito. Se a evolução
é descendência com modificação,
segundo Charles Darwin, a descendência está atrelada
às antigas florestas africanas, sendo que as modificações
levando ao Homo habilis aconteceram mercê da nossa adaptação
às savanas.
Em nosso referido livro, “O Homem na Pré-História
do Norte de Minas”, que é de 1983, na página
18/19, quando se encontrava estabelecida uma idade de 2 milhões
de anos para o crânio 1470, depois de novas avaliações,
e não entre 2 milhões e 2,5 milhões de
anos atrás, como queria Richard Leakey, já deixávamos
consignado que, com o prosseguimento do estudo da Pré-História
humana, o mais certo é ser aumentada a sua antiguidade,
que poderia ficar situada em torno de 4 a 5 milhões
de anos, desaparecendo, evidentemente, a polêmica advinda
de Lucy e ganhando o Homo habilis.
Observamos mais que, em qualquer circunstância, é
pretensão demais alguém anunciar ter descoberto
o primeiro representante de uma espécie. De mais a
mais, é relativamente inexpressiva a diferença
de idade entre o Australopithecus afarensis e o Homo habilis,
este contemporâneo de uma infinidade de seres afins
com aquele, quando sabemos que o grande e belo livro da evolução
trata fatos e evidências em milhões de anos.
E acertamos, pois, exatos 30 anos depois da edição
do nosso livro, os fragmentos de uma mandíbula da árida
região de Ledi-Geraru, no Estado etíope de Afar,
em 2013, receberam uma datação de 2,8 milhões
de anos passados, o que deixa o primeiro homem com uma idade
bem próxima do afarensis do mesmo sítio de Afar,
que existiu há pouco mais de 3 milhões de anos.
A precipitação da nossa parte foi achar que
a idade primeva da real transição de um verdadeiro
pré-homem
para um homem poderia ficar situada em torno de 4 a 5 milhões
de anos atrás. Hoje já pensamos que a nossa
história na Terra, quando muito, poderia se estender
a 4 milhões de anos atrás, se tanto.
Um fóssil de representante humano com aquela idade
provavelmente não será encontrado. E muito menos
do nosso ancestral direto, o verdadeiro pré-homem,
que ocupou seu espaço evolutivo em área de preservação
fossilífera extremamente difícil, quando muito
há 4 milhões, 4,5 milhões de anos. Então,
como dúvidas não restam sobre a extrema pobreza
de fósseis da própria linhagem do homem, este
fato recomenda uma cautela extremada diante de ossos que sequer
dizem respeito aos nossos primórdios.
E, basicamente por sabermos que se nada se compara à
inteligência humana, descortinando-se no palco da vida
há poucos milhões de anos, tal maravilha corresponde
a uns poucos décimos de um por cento da idade do planeta,
o que nos remonta ao fim de dezembro, pelo calendário
cósmico, conforme cálculo de Carl Sagan.
Também Francis S. Collins (obra citada, pág.
154/155) chama a atenção para os espaços
de tempo da evolução colocando o homem nos últimos
segundos da vida na Terra:
“Uma parte essencial do problema de aceitar a teoria
da evolução é que esta exige que se compreenda
a importância de espaços de tempo extremamente
extensos envolvidos no processo. Tais períodos acham-se
além da experiência individual de uma maneira
inimaginável. Um modo de reduzir os éons”
(espaço de tempo muito grande, como uma era ou a eternidade,
conforme nota de tradução da editora) “num
formato mais compreensível é imaginar o que
aconteceria se os 4,5 bilhões de existência do
planeta, desde sua formação inicial até
hoje, fossem comprimidos num dia de 24 horas. (...). A diferenciação
de ramificações que levariam a chimpanzés
e humanos ocorreria em apenas um minuto e dezessete segundos
restantes do dia e os humanos anatomicamente modernos apareceriam
três segundos depois. A vida de um ser humano de meia-idade
na Terra hoje tomaria somente o último milissegundo
(um milésimo de segundo). Não é de se
admirar que muitos de nós tenhamos tanta dificuldade
em considerar o tempo evolucionário.”
Enfim, podemos asseverar que, em nossa tão decantada
sapiência, sabemos quase o ínfimo do nada. O
verdadeiro indivíduo pensante é, invariavelmente,
humilde e sabedor que o livro da vida nunca foi nem é
inteiramente aprendido, inclusive por nossa exiguidade de
tempo, e, quando muito, conseguimos preencher algumas das
imensuráveis lacunas que carregamos vida afora também
no acréscimo do aprendizado e experiência de
terceiros.
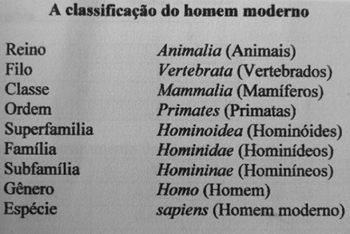
(Março/dezembro de 2020).
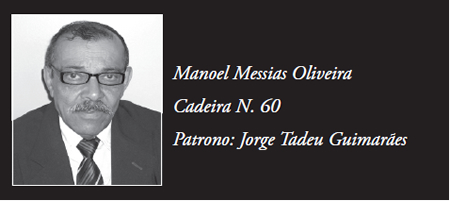
ANCESTRALIDADE
FOLCLÓRICA E
OS CATOPÊS DE MONTFES CLAROS
No
Brasil o ano todo é considerado de festas e divertimentos.
O carnaval é uma festa pública com origem no
cristianismo ocidental. Teve origem no Egito, há mais
de 2000 a.C.. Cuja comemoração foi inspirada
em rituais das festas de Ísis e do boi Ápis,
deuses egípcios. A festa combina música e desfile,
danças, fantasias e máscaras.
Em 1641, os colonizadores portugueses introduziram o carnaval
no nosso País e, atualmente, representa a maior festividade
folclórica comemorada em todo o Brasil. Acontece em
fevereiro ou em março, nos três dias precedentes
a Quarta-Feira de Cinzas, antes do período litúrgico.
O Carnaval brasileiro é oriundo do entrudo português.
No século XVII os foliões se armavam de baldes
e latas cheias de água, e todos acabavam molhados.
D. Pedro II, o Imperador, também se divertia jogando
água nos nobres. As comemorações duravam
três dias, ou seja, do domingo até a “Terça-Feira
Gorda”. O carnaval moderno é produto da sociedade
vitoriana do século XX. Paris foi o principal modelo
exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como
Nice, Santa Cruz de Tenerife, Nova Orleans, Toronto e Rio
de Janeiro se inspiraram no carnaval parisiense para implantar
suas novas festas carnavalescas. Mas o Rio de Janeiro criou
e exportou o estilo de fazer carnaval com desfiles de escolas
de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo,
Tóquio e Helsinque. O carnaval brasileiro tem samba,
axé e frevo e, claro, muita alegria nas ruas, clubes
e sambódromos.
Entre as tradições populares mais bonitas estão
os festejos juninos, especialmente no nordeste brasileiro.
São João, Santo Antônio e São Pedro
são muito referenciados e homenageados com fogueiras
desde a colonização do Brasil; as fogueiras
além de espantar o frio, assar batata e milho, relembram
Isabel, mãe de João Batista, avisando sua prima
Maria do seu nascimento. As homenagens começaram pelos
jesuítas, e coincidiam com a colheita do milho, que
foram incorporadas elementos das culturas indígenas
e africanas. Mas a dança da quadrilha relembra antigos
bailes da aristocracia francesa, onde alguns
“casamentos na roça” eram considerados
validos, mas precisavam que o sacerdote os confirmasse.
As festividades juninas acontecem durante o mês de junho;
dia 13 em honra a Santo Antônio; dia 24 em honra a São
João; dia 29 em honra a São Pedro. Cada região
celebra os santos à sua maneira, adaptando as tradições
juninas aos costumes locais e misturando elementos religiosos,
populares e folclóricos. Realizados nas casas, nas
ruas das cidades ou em sítios e chácaras; os
arraiais possuem alguns elementos essenciais que os identificam
como a alegria, a euforia, a dança e a música.
As festividades populares conhecidas como Folias de Reis,
Santos Reis ou Reisados, festejos também de origem
portugueses, são uma das mais expressivas tradições
religiosas e populares do Brasil ligadas às comemorações
de Natal, quando relembram a peregrinação dos
Reis Magos até a cidade de Belém para adorar
o Menino–Deus. Em Portugal, as folias de reis tinham
como principal finalidade divertir o povo.
No Brasil, a partir do século XVIII, essas festividades
passaram a ter um caráter mais religioso com características
próprias, em que nas igrejas católicas e em
muitas casas residenciais são armados presépios
representando o local onde nasceu o Menino Jesus em Belém,
quando os três Reis Magos foram em peregrinação
e levaram presentes: ouro, incenso e mirra. Pelo costume o
ouro era oferecido aos reis; o incenso a Deus e a mirra resina
de uma planta pequena e espinhosa, da qual se fazia um perfume
especial para embalsamar os corpos dos mortos. Esses presentes
significavam que Jesus era Rei, Deus e Homem, e haveria um
dia de descansar no túmulo entre perfumes.
A Folia de Reis é manifestação popular
de rara beleza, comemorada em cidades do interior do Nordeste,
Sul e Sudeste e nas periferias de grandes cidades, e podem
durar do Natal até o Carnaval.
Na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, as festas
populares folclóricas de maior expressão, na
maioria, estão relacionadas aos cultos religiosos católicos.
As festas são realizadas no mês de agosto com
missas, bênçãos e levantamento dos mastros,
representadas pelos grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos
em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São
Benedito e o Divino Espírito Santo, com as peculiaridades
locais e com participação popular, que percorrem
as ruas cantando, dançando e louvando seus santos de
devoção.
O Catopê de Montes Claros, embora da mesma origem dos
Congados, Moçambiques e outros similares de outras
regiões, com o tempo foi adquirindo características
próprias, talvez por ter ficado isolado; a começar
pelo próprio nome, Catopê e não “Catopé”,
do original, que seria o nome da dança ou do ritmo,
como o batuque.
Durante
os dias de festa são realizadas práticas religiosas
como missas, bênçãos e levantamento dos
mastros, acompanhadas das festividades dos grupos tradicionais
dos Catopês, das Marujadas e Caboclinhos, além
dos cortejos com jovens da comunidade caracterizados como
príncipes e princesas.
Não se sabe precisar quando começaram. A mais
antiga notícia data de 23 de maio de 1838, quando Marcelino
Alves requereu à Câmara Municipal “licença
para tirar esmolas para as festas de Nossa Senhora do Rosário
e do Divino Espírito Santo, que pretendia fazer nessa
freguesia”.
Com o deferimento da licença a iniciativa pegou e caiu
nas graças do povo simples e festeiro. Até os
presentes dias, sempre no mês de agosto, os Catopês,
Marujos e Caboclinhos percorrem as ruas de Montes Claros,
seguindo seus reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, príncipes,
princesas etc., cantando, dançando e louvando os santos
de devoção.
Os Catopês, Marujos e Caboclinhos representam as três
raças que originaram o brasileiro, a branca, a negra
e a indígena.
No início, em Montes Claros no Estado de Minas Gerais,
o terno de Catopês era composto apenas por integrantes
da raça negra, mas hoje em dia, não existe mais
essa exclusividade, participam pessoas de todas as raças
e condições sociais.
O Catopê, cuja palavra em sua originalidade seja “catopé”,
do folclore de Moçambique, e que, no Brasil, com o
passar do tempo foi adquirindo características próprias
é uma dança, ou ritmo, como o batuque; assim
como a Congada, que também é de origem africana.
A música do Catopê é muito pobre, o que
predomina é o ritmo, tanto que o seu instrumental é
rústico e de percussão: tamborins, pandeiros
e caixas; fabricado pelos próprios foliões com
couro de bode.

Chico Ornelas
Os
negros quando vieram escravizados, trouxeram consigo suas
crenças e tradições, homenageando seus
reis e cultuando os seus deuses. Um desses reis foi “Chico
Rei”, escravo na região de Ouro Preto em Minas
Gerais, mas que era príncipe em sua tribo africana.
Aqui, os seus súditos e companheiros de escravidão
o fizeram rei; e, conforme a tradição comandava
as festas de culto a seus deuses. E como aconteceu com a macumba,
o candomblé e a umbanda, os negros relacionaram seus
deuses aos santos da Igreja Católica e passaram a
cultuar Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Conta-se que Chico Rei, juntando aos poucos, ouro em pó
que trazia das minas misturado aos cabelos, conseguiu comprar
sua própria liberdade. Para cumprir um velho costume,
na falta de um rei verdadeiro, os negros elegiam alguém,
entre eles, para que os representasse e assim fizeram o cerimonial
de coroação de Chico Rei, que uma vez livre,
ainda conseguiu comprar a liberdade de vários companheiros
de infortúnio.
Os grupos chamados de ternos, em geral, usam roupas brancas
adornadas com fitas multicoloridas, principalmente rosas,
azuis e brancas, que partem das coroas dos foliões.
Na cabeça usam capacetes, enfeitados com espelho e
miçangas repletas de penas de aves como emas e outras
penas exóticas matizadas de cores vivas. O capacete
dos chefes, além desses enfeites, traz no topo, penas
de pavão e de ema.
Como geralmente o capacete é feito pelo próprio
fulião, a sua aparência vai depender inteiramente
do gosto de cada um e do poder aquisitivo para comprar os
adornos, que na maioria é baixo.
Atualmente, temos em Montes Claros três ternos de Catopés.
Dois de Nossa Senhora do Rosário e um de São
Benedito. Essas danças são muito apreciadas
no Brasil nas regiões de grandes concentrações
de negros que vivem em quilombos, fazendas e cidades. O congado
norte-mineiro expressa essa tradição comemorativa,
sempre no mês de agosto.
Os Marujos e os Caboclinhos são comemorados conjuntamente
com os Catopês e Congadas; festejam e louvam Nossa Senhora
do Rosário, São Benedito e o Divino Espírito
Santo. As Marujadas têm inspiração nas
tradições luso-espanholas, representando os
grandes feitos náuticos dos cristãos. Os grupos
de Marujos, como também são conhecidos, usam
roupa branca, ou vermelha e azul; de origem européia
narram as aventuras dos marinheiros descobridores do Brasil.
Os Caboclinhos de origem indígena representam o índio
brasileiro com penas e cocares de capacetes, uma referência
àqueles grupos étnicos; o grupo é formado
em sua maioria por crianças e falam das brincadeiras
dos curumins da selva. Os meninos apresentam com o busto nu,
e as meninas com blusas vermelhas e azuis.
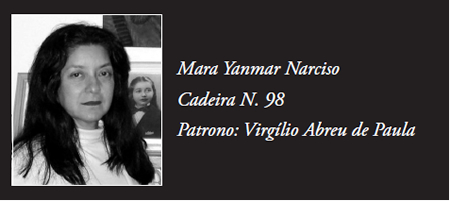
EU
SOU O RIO SÃO FRANCISCO
E O CERRADO
Depois
das prosopopéias criadas por Ivo das Chagas, metamorfoseando-se
no Rio São Francisco e no Cerrado, incorporando-os,
dando-lhes a palavra com ciência e sentimento, é
preciso conhecer essas obras antes de se falar em Cerrado
e Bacia do Rio São Francisco. O Grande Ivo das Chagas,
Mestre em Geografia pela Universidade de Bordeaux, França,
e bacharel em Geografia pela UFMG, escreveu de forma poética
em primeira pessoa, as enfermidades do Rio São Francisco
e do Cerrado, explicando, filosoficamente e degrau por degrau
como se instala e se alastra o mal, num livro que, na verdade
são dois, na ida, para um lado e com a capa “Eu
sou o Rio São Francisco” e do outro “Eu
sou o cerrado”, de ponta cabeça. Nos dois papéis
pede socorro, mostrando uma verve de profundo conhecedor teórico
que viveu a prática, morando no cerrado do norte de
Minas e alhures, navegando nos barcos a vapor, conhecendo
cada metro daquele bioma, as profundezas do seu subsolo, as
suas águas superficiais e subterrâneas.
A
largueza dos seus conhecimentos teóricos e os livros
citados numa extensa bibliografia são poucas coisas
diante da paixão amorosa que Ivo das Chagas teve pelo
Rio da Integração Nacional. Sobe na Serra da
Canastra e lá do alto, conta a emoção
do salto que o rio nascente dá. E segue rio abaixo,
Brasil acima, citando características geológicas,
geográficas, flora e fauna no entorno, a ação
do homem, e tudo o mais que encontra pelo caminho. Desfazendo
um crochê, vai explicando os destroços da presença
humana, desde 1501 (Américo
Vespúcio), quando o rio foi avistado pelos “civilizados”,
até a facada de morte, que foi a transposição
sem a revitalização. Informa que a barragem
de Três Marias foi um acontecimento fatal para o rio,
matas ciliares e calha navegável. A eletrificação
trouxe fábricas e seus terríveis poluentes,
matando ferozmente a fauna aquática. As interferências
humanas são desastres anunciados que avançam
feito fogo. Os impactos ambientais são experimentados
no transcorrer dos fatos, numa macabra descoberta. Então,
vão se instalando as doenças da bacia hídrica
mais importante do país. Desmatamento, poluição
fabril, erosão, assoreamento, baixa dos níveis
dos lençóis freáticos, secagem das veredas,
morte dos buritis - a vegetação tipo oásis,
e sumiço animal. A Represa de Sobradinho, catastrófica,
inundou cinco cidades: Remanso, Casanova, Sento Sé,
Pilão Arcado e Sobradinho. O prejuízo ambiental
foi dramático.
Da mesma forma, personificando o cerrado e dando-lhe voz e
importância, Ivo das Chagas explica a dimensão
da variedade da vegetação, e, ao contrário
do que pregam sobre a pobreza desse ecossistema, evoca suas
riquezas, fala da beleza e variedade das flores, dos frutos
– em especial o pequi e dos animais terrestres, como
lobo-guará, tamanduá, tatu, seriema, gambá,
raposa, anta, veado, onça que “desapareceram
dos lugares mais aviltados”. Lamenta a chegada dos exploradores
sedentos por carvão para a siderurgia. Em 50 anos,
o
cerrado virou cinzas e cascalho. Até as raízes
das árvores, que pode riam, em tese, recuperar parte
daquilo que tinham sido, foram arrancadas por tratores, deixando
uma terra arrasada, para desespero do aficionado Ivo das Chagas.
Tudo já ia muito mal, quando da chegada da onipresente
monocultura de pinho e eucalipto e sua consequência
de fim dos tempos. Desde então, o resultado está
à vista de todos. Instalou-se a desertificação
em nome do capital. A ganância ignora o conhecimento,
e acelera a destruição. As riquezas são
levadas, deixando para trás a voçoroca, cruel,
profunda e incontrolável erosão.
O escoamento da água predomina sobre a infiltração,
reduzindo as coletas naturais, instalando-se a sequidão.
As ações predatórias como um todo rebaixam
o nível dos aquíferos, inviabilizando a formação
das veredas.

Ivo
das Chagas escreveu algo espetacular nos seus dois aparentemente
singelos, mas importantíssimos livros. Os trechos sobre
o Rio São Francisco, que me tocaram fundo, cito entre
aspas. “Tudo começou com a construção
de um barramento de minhas águas, numa região
chamada Três Marias” [...] “Essa tal barragem
acarretou um desequilíbrio total da minha hidráulica,
de meus seres vivos aquáticos e de meus barranqueiros,
sem cumprir totalmente sua função de reguladora
de minhas águas” [...] “Meus peixes não
puderam mais realizar o ritmo anual da piracema até
o meu alto curso e, por outro lado, minhas lagoas marginais,
em grande parte, perderam sua função de berçário
de minha ictiofauna...” [...] “Diminuída
ou anulada aquela ida e vinda de minhas águas sobre
os barrancos e as lagoas, o beiradeiro perdeu parte substancial
de sua disponibilidade alimentar, pois houve uma redução
do pescado e a lavoura de vazante, praticamente desapareceu”
[...] “O desnudamento de minhas beiradas provocou uma
erosão generalizada e, consequentemente, processos
radicais de
assoreamento...”
Além de mostrar a “ação perturbadora
dos humanos”, despertando emoção nos mais
sensíveis, o autor quer desencadear ações
para reduzir o processo destruidor do Rio São Francisco.
Eis os objetivos de Ivo das Chagas.
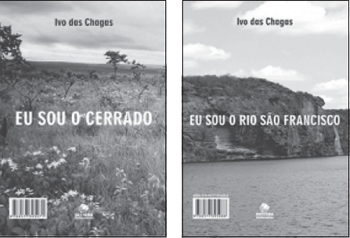
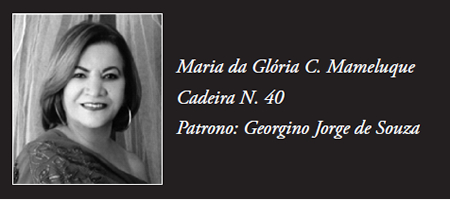




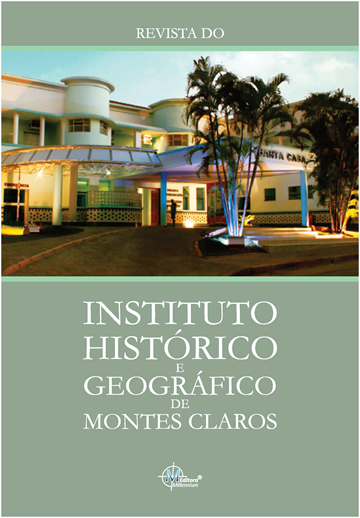 ,
,